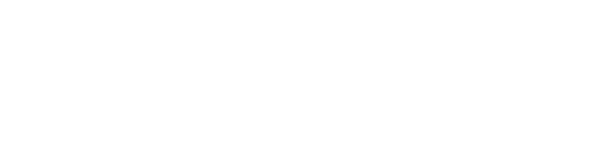Por Leonardo Sakamoto
Por medo de ser assassinado, o deputado federal reeleito Jean Wyllys (PSOL-RJ) desistiu do mandato e afirmou que não pretende voltar ao país tão cedo – ele está fora por conta das férias. Jean, que sempre recebeu ameaças de morte por conta de sua atuação parlamentar em defesa da população LGBTT e dos direitos humanos, sentiu sua situação piorar após a execução da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes e das eleições do ano passado.
O deputado, que vive sob escolta policial, disse em entrevista ao jornalista Carlos Julianos Barros, na Folha de S.Paulo, que pesou na decisão as informações de que familiares de um policial militar suspeito de chefiar uma milícia no Rio de Janeiro trabalhavam no gabinete do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro. “O presidente que sempre me difamou, que sempre me insultou de maneira aberta, que sempre utilizou de homofobia contra mim. Esse ambiente não é seguro para mim”, disse.
Você não precisa gostar de Jean Wyllys ou concordar com ele para entender que uma democracia pressupõe a garantia que pessoas não sejam ameaçadas de morte por aquilo ou por causa daqueles que defendem.
Principalmente quando essas pessoas são políticos eleitos pelo voto popular para falar em nome de uma parcela dos cidadãos no Congresso Nacional. Porque, quando isso acontece, não é apenas o representante que está sendo expulso pelo clima de terror contra ele, mas é a opinião de cada eleitor e eleitora que está sendo amordaçada e violentada.
Uma democracia incapaz de investigar com rapidez e seriedade as ameaças de morte contra um congressista é perigosa. Uma democracia em que uma desembargadora divulga ameaças de morte contra um deputado federal nas redes sociais é disfuncional. Uma democracia em que políticos ironizam um parlamentar que deixa o país com medo de morrer é ridícula.
Não deixo de sentir uma certa vergonha alheia com relação às autoridades que afirmam, com peito estufado, que as
“instituições estão funcionando normalmente”. Qual o referencial histórico que adotam para tal avaliação? O Ato
Institucional número 5 do Brasil de 1968? A Noite dos Cristais da Alemanha de 1938?
Nosso país sempre matou seus pobres, suas mulheres, seus negros, suas minorias em direitos, seus sem-terra e semteto, seus trabalhadores rurais, seus ativistas, seus jornalistas, seus políticos e qualquer um que resolvesse se insurgir contra a desigualdade e a injustiça social. No ano passado, contudo, inauguramos um novo ciclo de violência política.
Marielle Franco e Anderson Gomes foram executados em março. Os ônibus da caravana do ex-presidente Lula foram alvos de tiros no mesmo mês. O então candidato Jair Bolsonaro sofreu um atentado em setembro que quase lhe custou a vida. Em outubro, o mestre capoeirista e compositor Moa do Catendê foi esfaqueado e morto por um eleitor de Bolsonaro após uma discussão. Isso não resume a violência, claro.
Esse ciclo encomenda mortes, mas também permite que elas aconteçam, através da omissão e do incentivo.
Em “Eichmann em Jerusalém – Um relato sobre a banalidade do mal”, a filósofa Hanna Arendt conta a história da captura do carrasco nazista Adolf Eichmann, na Argentina, por agentes israelenses, e seu consequente julgamento.
Ela, judia e alemã, chegou a ficar presa em um campo de concentração antes de conseguir fugir para os Estados
Unidos durante a Segunda Guerra Mundial.
Ao contrário da descrição de um demônio que todos esperavam em seus relatos, originalmente produzidos para a revista New Yorker, o que ela viu foi um funcionário público medíocre e carreirista, que não refletia sobre suas ações e atividades e que repetia clichês. Ele não possuía história de preconceito aos judeus e não apresentava distúrbios mentais ou caráter doentio. Agia acreditando que, se cumprisse as ordens que lhe fossem dadas, ascenderia na carreira e seria reconhecido entre seus pares por isso. Cumpria ordens com eficiência, sendo um bom burocrata, sem refletir sobre o mal que elas causavam.
A autora não quis com o texto, que acabou lhe rendendo ameaças, suavizar os resultados da ação de Eichmann, mas entendê-la em um contexto maior. Ele não era o mal encarnado. Seria fácil pensar assim, aliás. Quis ela explicar que a maldade foi construída aos poucos, por influência de pessoas e diante da falta de crítica, ocupando espaço quando as instituições politicamente permitiram. O vazio de pensamento é o ambiente em que o “mal” se aconchega, abrindo espaço para a banalização da violência. Já fiz essa reflexão sobre o livro aqui, mas é pertinente retomá-lo neste momento.
Líderes políticos, sociais ou religiosos afirmam que não incitam a violência através de suas palavras. Porém, se não são suas mãos que seguram o revólver, é a sobreposição de seus argumentos e a escolha que fazem das palavras ao longo do tempo que distorce a visão de mundo de seus seguidores e torna o ato de atirar banal. Ou, melhor dizendo,
“necessário”. Suas ações e regras redefinem o que é aceitável, visão que depois será consumida e praticada por terceiros. Estes acreditarão estarem fazendo o certo, praticamente em uma missão divina.
Os envolvidos nesses casos colocam em prática o que leem todos os dias na rede e absorvem em outras mídias: que seus adversários político e ideológico são a corja da sociedade e agem para corromper os valores, tornar a vida dos outros um inferno e a cidade, um lixo. Seres descartáveis, que nos ameaçam com sua existência, que não se encaixa nos padrões estabelecidos do “bem”.
Jean Wyllys foi vendido, ao longo dos anos, como uma dessas pessoas descartáveis, que ameaçam a existência de
“homens e mulheres de bem”. Nesse sentido, o agressor pode ser qualquer um.
A discussão não é entre direita e esquerda, mas entre civilização e barbárie. Com o exílio de Jean Wyllys por medo de morrer, a barbárie marca mais um ponto.