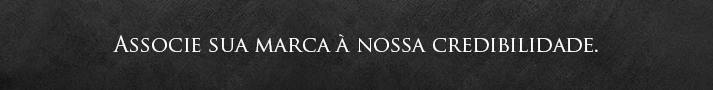“[…] Mas, de vez em quando, o gato tem sido um fator genuíno no êxito de uma peça. Justo antes de que caísse o pano, terminado o primeiro ato de uma comédia no Teatro Wallack, de Nova Iorque, o gato do teatro caminhou lentamente pelo cenário, que estava disposto como uma sala de estar, sentou-se em frente à lareira e principiou a assear-se. O toque realista resultou arrebatador, e, se David Belasco houvesse estado ali, ter-se-ia retorcido agonicamente de inveja, por não o ter introduzido em alguma peça sua. Quando o elenco saiu para agradecer, houve gritos chamando o “menino”, e os aplausos recrudesceram quando este apareceu nos braços da atriz do espetáculo. O produtor decidiu, de imediato, que o felino devia converter-se num ator permanente, mas, quando o chamaram para ensaiar na manhã seguinte, os resultados não foram satisfatórios. Óbvio, o gato se negava a tomar parte num absurdo como esse.”
El Tigre en la Casa. Una Historia Cultural del Gato
(Carl Van Vechten)
“Uma brisa mais suave fazia flamejar os mantos bordados. O de Gaspar era de púrpura de Corinto.”
La Adoración de los Reyes. El JardínUmbrío. Historias de Santos, de Almas en Pena, de Duendes y Ladrones
(Ramón del Valle-Inclán)
“Mas, acima e além, há um nome que ainda resta,
Este de que jamais ninguém cogitaria,
O nome que nenhuma ciência exata atesta
– SOMENTE O GATO SABE, mas nunca o pronuncia.
Se um gato surpreenderes com ar meditabundo,
Saibas a origem do deleite que o consome:
Sua mente se entrega ao êxtase profundo
De pensar, de pensar, de pensar em seu nome:
Seu inefável afável
Inefanefável
Abismal, inviolável e singelo Nome.”
O Nome dos Gatos
Obra Completa. Volume I. Poesia. Tradução de Ivan Junqueira
(T. S. Eliot)
“El vino de Jerez, remoza la vejez”
(ditado andaluz)
“O vinho de março fica no regaço; o de abril vai ao barril; o de maio é para o gaio”
(ditado duriense)

Por Jessé Alexandria
A frase, dita assim, sem pretensão nenhuma de professar filosofia algo existencialista, nem de criar um chiste, nem de sufragar uma ironia, foi do absurdo à ambiguidade, e desta à sensatez, segundo esse meu modo de entender o mundo racionalmente. Ouvi-a durante a noite em que fiz mais um passeio noturno ao Parque Rio Branco. Na volta da caminhada, numa noite de clima fugidiço, entre tépido e ameno, antes do início da estação invernosa, pois recordo que íamos pelo fim de maio, sem que eu possa hoje fixar data precisa, porquanto já se vão muitos anos de permeio, Dona Aracy, vizinha da casa em frente, em cuja calçada nos encontrávamos, fez a seguinte observação: “Assim como são as pessoas, são os seres humanos”. Ela não se referia a pessoas comuns como nós (depois veremos que aludia a pessoas especiais, misteriosas), enquanto dava água e comida a um pequeno bando vadio que a visitava todas as noites. E ia ela, com a verdade moral de seu aforismo inabalável, pondo água nos potes de margarina e ração nas latas de goiabada, antes vazios e escrupulosamente limpos, contando-me sua relação pessoal com cada um dos visitantes noturnos:
— A Indomada, aquela sialata, não aceita carinho nenhum. Nenhum afago, nenhum toque nas costas, nada! Sofreu muita violência dos seres humanos. Mas é muito miona. Já a Vesga, que é essa siamesa de olhinhos trocados, não deixa que toquem nas costas nem na cauda dela, mas se deixa acariciar na cabeça. É completamente muda, nunca escutei ela miar, mas morde que é uma beleza, basta estar com raiva. O Austero, esse tigrado, todo compenetrado, mia a prestação, na maior solenidade. São sempre dois miados por noite, no começo e no fim do expediente, por isso, às vezes, eu chamo ele de Funcionário: bate o ponto quando chega e quando vai embora. Mas ele se deixa acariciar, e até vem pedir um pouco mais de carinho, quando falta chamego.
— E eles comem e bebem tudo? — lhe pergunto.
— Tudo, sempre. Não deixam nenhum farelo de ração nem quase nenhuma gota d’água. Vêm sempre morrendo de fome e de sede. O ruim de tudo isso é que, com o passar do tempo, me afeiçoo, e alguns deixam de vir, somem. Aí começo a pensar que ou morreram atropelados, ou envenenados; ou foram adotados. A saudade dói em mim feito a ciática. Procuro me convencer da segunda hipótese, que eles encontraram um lar. E fico imaginando que estão bem aquecidos, gordos, refestelados no sofá de uma casa grã-fina, ou vivendo numa casinha de madeira, construída numa árvore no quintal de uma dessas casas chiques de condomínio, com uma escadinha pra subir até ela. Fico com o final feliz, como nos filmes de minha época de moça. Mas, de vez em quando, recebo uma notícia ruim: que um deles foi atropelado e tá sendo pisoteado por uma infinidade de rodas de carros na Avenida Pontes Vieira, perto daqui. Às vezes vou ver, pra ter certeza de que é realmente algum deles, vindo sei lá de que lugar desse parque aqui perto, pois eu sei que eles vão ali namorar. Vez por outra, volto no meio do caminho, porque me falta coragem pra ver a carnificina. As pernas tremem tanto, que não consigo prosseguir. Outro dia, quando voltava do mercado, encontro o Gaspar morto, no pé da calçada. Algum cristão tirou ele da rodagem e deixou na sarjeta. Aí, fui tocar nele e ainda senti o corpinho dele quente. Ele tá enterrado no quintal daqui de casa. Tem uma cruz pequena, púrpura e dourada, com uma inscrição na lápide. Fiz uma homenagem a ele. Foi a morte mais sentida. Sinto até hoje, me dói muito, bem aqui dentro — aponta para o peito, e prossegue:
— Mas tem um lado muito bom nisso tudo: é que esses danadinhos me fazem companhia durante esse período da noite, que é quando eu me sinto mais sozinha — afaga o dorso de um gato tigrado, meio malhado por baixo da pelagem, que a rodeava, chamado Coquetel, batizado com esse nome por causa das palavras-cruzadas, o maior passatempo dela.
— Por que Gaspar?
— Por que Gaspar? Nunca vi alguém ser mais Gaspar do que ele. Eu chamei ele de Gaspar, o Rei Mago, porque era meio arruivado, e ele me atendeu. Parecia que sempre foi o nome dele. Então, Gaspar ficou. Ele tinha algo especial. Não que os outros não tenham, mas ele tinha algo mais especial ainda. Ele me compreendia. Nunca me respondeu falando, claro, senão eu estaria louca, mas ele me respondia miando ou fazendo algum gesto, e eu compreendia sua linguagem, cada vez que eu contava pra ele alguma reclamação minha, alguma mágoa de família, alguma falta de alegria, alguma queixa dos meus filhos, que nunca me visitavam. Então, certas vezes, ele me respondia, dizendo assim: “Não se preocupe, o Júnior vem esses dias, fique tranquila”. E, poucos dias depois, eu escutava a campainha tocar sete vezes (tã-tã-rã-rã-tã… tã-tã!) e pensava: “Ah, é o Júnior! Bem que o Gaspar disse”. E era. E o meu filho sempre parecia estar melhor do que quando aparecia sem o Gaspar me avisar. Quando o Gaspar me avisava, era como se fosse um presente, a visita do meu filho. Tudo era maravilhoso. O Júnior colocava música romântica na vitrola. Roberto Carlos, Nat King Cole e boleros, quase sempre. Às vezes, Altemar Dutra, pois a gente adorava Serra da Boa Esperança e eu sabia a história da canção do Lamartine Babo, que meu filho havia me contado. Eu fazia macarronada com molho pesto, e ele adorava. O Júnior cantarolava, vinha sem problemas com a noiva, sem contas pra pagar, sem dores estomacais, que ele quase sempre sentia por causa da gastrite. Ah, ele vinha leve, me abraçava, me trazia um perfume. E dançava todo tipo de música como se fosse uma valsa. Qualquer uma, podia ser um tango ou um samba-canção. Me tirava pra dançar, bailava comigo, ainda que eu resistisse de mentirinha, pois eu falava de propósito, sabendo que era em vão: “Não, Júnior, seu bobo! Não quero!” Ah, eu adorava esses dias. Serra da Boa Esperança, esperança que encerra — Dona Aracy canta com voz afinada e terna — No coração do Brasil, um punhado de terra. No coração de quem vai, no coração de quem vem, Serra da Boa Esperança, meu último bem. Parto levando saudades, saudades deixando… Não é linda? Era como se aqueles dias não fossem terminar nunca. Mas passavam tão depressa.
— E atualmente, seu filho visita sempre a senhora?
— Não, agora não. Ele se mudou pro sul, faz uns três anos. Mora em Joinville. É gerente de uma fábrica têxtil. Adiou, esses dois últimos anos, a vinda aqui. Agora é o contrário: eu fico pensando que os dias longe dele vão demorar pouco, mas duram uma eternidade. Eu entendo: ele precisa pagar as contas da mudança, dos móveis novos, do enxoval pro casamento. Eu compreendo. Mas compreender não mata a saudade. Na verdade, você sabe, nada mata a saudade. A saudade parece ser uma das poucas coisas eternas. E, mesmo quando a gente desaparece, ela se perpetua.
E continua lembrando Gaspar:
— O Gaspar tinha uma coisa que nunca vi em gato nenhum. Ele era mais educado que gente! Ele nunca comia antes das damas. Nunca. Olha, ele esperava que todos comessem e bebessem. Na verdade, mesmo pros gatos, ele cedia a vez. Ficava naquela postura elegante, de gato, sabe?, pensativo, observando tudo, com as patas da frente firmes, retas, as de trás dobradas, com a cabeça bem assim, olhando por cima de todos. Achava tão interessante isso dele. Aí, conversava com ele: “Gaspar, você não vai comer não, menino?” Ele me respondia, passando a língua na pata esquerda, quase toda vez que eu perguntava isso. Era incrível. Isso significava que eu não devia insistir, que ele ia esperar pra comer depois de todos. E, sabe, ele era como um inspetor de supermercado, ou um chefe de cozinha: cheirava tudo, olhava, provava com a língua, parece que conferia se estava tudo em ordem, se as coisas estavam limpas. Como na Bíblia Sagrada. Na Bíblia, Gaspar era o mago que inspecionava tudo.
— Que interessante. Não sabia que Gaspar era ruivo nem que era um mago inspetor.
— Era. Já li isso em algum lugar, não na Bíblia, acho que foi num almanaque, há muito tempo. O nome dele significa isso: inspetor. A Bíblia conta que ele era ruivo ou loiro, não me lembro. Se bem que esse tempo da Bíblia é tão antigo, que a gente não pode nem saber o que eles entendiam por ruivo e loiro. Em alguns livros antigos, o mar tinha cor de vinho, imagina a cor do cabelo. Mas o meu Gaspar era assim mesmo, era desse jeito, com esse temperamento, esse comportamento. Tenho umas fotos dele lá dentro, depois lhe mostro, pra você ver como ele era bonito.
— Quero ver, sim. A senhora tem outros filhos, Dona Aracy?
— Tenho uma filha. Juliana.
— Eu creio que nunca vi sua filha por aqui. Ela também mora fora da cidade?
— Não, mora a cinco quarteirões daqui, mas é uma pessoa muito ocupada, meu filho. Ela é médica, dermatologista. É uma pessoa que não tem tempo nem pros filhos. São dois, um casal. Alfredinho e Fernanda, a mais velha. Alfredinho é tão bonzinho. Fernanda é uma moça bonita. Fico até triste, porque eles precisam muito da mãe e do pai. O pai também é um homem muito ocupado, se chama Alfredo, e as crianças ficam muito com a empregada. O pai também é médico e viaja muito pro interior e pra outras capitais, é também professor da Universidade Federal. É neurocirurgião. Eles são pessoas com a vida preenchida, como a minha filha me diz.
— E seu esposo, Dona Aracy?
— Sou viúva, faz dez anos que Vicente me deixou. Foi rápido. Um ataque cardíaco. Demorou que eu superasse a perda, sabe? Minha companhia agora são esses meninos e meninas.
Se aproxima da velha um gato preto, grande e peludo.
— Este é o Don Juan, o namorador da turma. Muitas vezes, quando chega aqui, é todo lanhado, com a cara arranhada, unhada pra todos os lados. Vive brigando pelas gatas do bairro. Deve ter uns cem filhos, né, menino? — e sorri, afagando a cabeçorra de Don Juan, que faz uma meia-volta e torna a se esfregar na perna da velha, miando dengosamente.
— Ele se chama Don Juan porque é namorador, Dona Aracy? Eu acho interessantes os nomes que a senhora colocou nos gatos.
— Não só por isso. Don Juan porque ele se parece com o ator dum filme que vi na tevê. Não me lembro agora do nome do rapaz garboso, todo lorde. Tem uma cena que ele usa uma máscara preta, que só me lembra esse gato. Porque o meu Don Juan, não sei se você reparou, tem umas manchinhas acima e abaixo dos olhos, que parecem uma máscara. Olha aqui — empurra a cabeça do gato pra cima, pelo queixo, devagar e levemente, com a ponta dos dedos, mostrando as manchinhas.
— Verdade, não tinha reparado. O ator que a senhora fala se chama Johnny Depp — recordo-lhe o nome do astro do filme.
— Esse mesmo, meu filho, esse mesmo. E aquele bigode lindo dele parece o do meu preto aqui — e ri. — Um bigodão!
Don Juan põe o rabo em alerta e vai lamber uma gata caramelo, que não havia, até então, parado de comer.
— Aquela é a Isabel Cristina — aponta. — É a princesa daqui. Toda majestosa, principesca ela, parece a dona do pedaço. É quase, pois, na verdade, a rainha é a mãe dela, aquela que tá com uma feridinha na coxa — e aponta para uma gata branca, já velha e de pelo aqui e ali falhado, que se deitou entre a filha e Don Juan.
— A Isabel Cristina é a princesa, e a rainha é a Teresa Cristina. São bem diferentes no temperamento, não só nas cores. Enquanto a filha é espevitada, brigona e louca pelo Don Juan, a mãe não quer saber de gato nenhum. Só queria saber do meu Gaspar. É a viúva recatada. Elegante que só ela! Quer dizer, mais ou menos viúva, pois eu não tenho certeza se o verdadeiro marido dela morreu.
— Eita, Dona Aracy, só me falta existir por aqui um Imperador D. Pedro II também.
— Pois não falta não. Tinha sim, meu filho, um D. Pedro. Mas, por incrível que pareça, o D. Pedro, caramelo como a Isabel Cristina, era o marido da Teresa Cristina, e o Gaspar era o amante. A Teresa Cristina nunca ligou para o D. Pedro, nunca. Era uma relação conjugal, sem amor nenhum. Ela amava, de verdade, o meu Gaspar.
— E como a senhora sabe que eles eram casados, D. Pedro e Teresa Cristina, e Gaspar era o amante, e não o contrário?
— Ora, pelos filhos. Todos os filhos dela eram do D. Pedro: ou gatos brancos, ou gatas caramelo, ou mesclados. Ela nunca teve filhos com o Gaspar. Fora do casamento, nunquinha — estala a língua no céu da boca, reforçando a negativa. — Mas era só o Gaspar chegar, que ela se lambia toda, tomava seu banho, se emperequetava toda pra ele. E o D. Pedro ficava furioso, ameaçava o Gaspar com aquele chiado, mostrando as presas. E o Gaspar… nem aí — faz um gesto, dobrando os dedos da mão sob o queixo, jogando-a para fora. — Ignorava.
— Não acredito — falo em tom de surpresa, mas de credulidade.
— Pode acreditar. Assim como são as pessoas, são os seres humanos — e despejou de sua jarrinha água suficiente para encher as latinhas de margarina que havia colocado um pouco afastadas da comida, sem notar que eu, cartesianamente, não encontrava razão nenhuma para tal comparação inusitada entre pessoas e seres humanos. Talvez um gracejo, imaginei, após pensar que pudesse ser uma formulação com algo de ironia existencialista sobre nós, pessoas, humanos, e não sobre os gatos.
— Sabe — continuou Dona Aracy —, os gatos não gostam que a gente coloque a comida perto da água, tem que ser um pouco longe. Eles não gostam. É como se alguém pusesse no seu prato, quando fosse servir você, a carne em cima do feijão. A carne tem que estar do lado do arroz ou da salada, sempre. Nunca do lado do feijão.
— Verdade — sorrio, pois esse é um costume que mantenho. — Mas onde tá D. Pedro, Dona Aracy?
— Não sei. Se a vida dos gatos imita a dos seres humanos, deve estar em Paris, exilado — e ri, mostrando a gengiva e os dentes ainda fortes para alguém daquela idade. — Pode ser que tenha sido adotado por um casal que estivesse de mudança pra Cidade Luz, fico aqui imaginando — acrescenta, fazendo um gesto com os lábios, o inferior sobre o superior.
— Quem sabe? — respondi, lembrando-me de que já era tarde e deveria regressar do meu passeio noturno.
Mas Dona Aracy puxa conversa:
— E sua esposa, já descansou?
— Não, o parto tá marcado pra semana que vem.
— Já sabe o sexo do bebê?
— Sim, claro. É uma menina. Helena.
— Nem precisava perguntar pra você. Nos dias de hoje, ninguém espera a criança nascer pra saber. As pessoas compram logo o enxoval, têm que escolher a cor rosa ou azul, essas bobagens. E com essa tecnologia toda, quem vai deixar de saber, né? As pessoas são curiosas, ansiosas, não vão esperar. Não é mais aquela história de que cada coisa tem seu tempo. Não, cada coisa tem o tempo da gente, dos seres humanos. Fico imaginando, comparando com os gatos. Gata sabe lá se vai ser menino ou menina! Aliás, meninos, meninas ou meninos e meninas. Sabe nada! E tanto faz! Você já viu uma gata parir? É muito feio. Mas, depois que nascem, elas deixam tudo limpinho. Não é que nem cachorro. E os filhinhos, miudinhos, coitados, feinhos, são tão bem cuidados. Os doentinhos, elas matam, né?, você sabe! É a natureza, meu filho… ela é sábia, não quer deixar os bichos sofrerem. Eu, por exemplo, quem vai cuidar de mim, se eu tiver Alzheimer? Minha filha, ocupadíssima, que nem cuida dos filhos? Meu filho caçula, que tá sei lá a quantos quilômetros daqui? Vou pro asilo de velhos? — e seu semblante muda, e seus olhos se enchem de lágrimas.
— Não, Dona Aracy, não diga isso. Tenho certeza de que um deles cuidará da senhora, mas tenho mais certeza ainda de que a senhora não vai ter essa doença não.
— Não tenha tanta certeza, meu filho. Essas coisas acontecem com os velhos. Tenho oitenta anos, já vi todas as minhas amigas morrerem. Outro dia eu estava na cadeira de balanço, na minha varanda, e, de uma hora pra outra, eu me esqueci do nome do Gaspar. Isso faz uns meses. Fiquei sem saber, procurando, procurando, e, de repente, me veio a música que cantava pra ele. Aí me lembrei do nome dele. Chorei, chorei, chorei, muito, muito. Tanto quanto no dia que encontrei o Gaspar na sarjeta.
— Mas isso acontece, Dona Aracy, ocorre com qualquer um, esse esquecimento.
— Não, o Gaspar era um membro da família, como um filho. Como você se sentiria se esquecesse o nome da própria filha? E não foi por um instante, foi por um minuto, dois, talvez mais. Ah, veja só, já me esqueci até do seu nome — arqueia as sobrancelhas, perscrutando a memória.
— Pedro.
— Pedro, é mesmo, você me disse outro dia. Nome bonito, bíblico.
— E qual foi a música que a senhora lembrou pra lembrar o nome dele, do Gaspar?
— Depois lhe digo, senão agora eu choro, porque é como se o Gaspar estivesse e não estivesse mais aqui. Não sei se você me entende.
— Claro, entendo. Mas a senhora gostava, quer dizer, ainda gosta tanto do Gaspar, por que não trouxe ele pra morar com a senhora?
— Mas eu tentei, meu filho, tentei várias vezes. Falei tanto pra ele: “Gaspar, meu Gaspar, venha morar comigo, aqui você vai ficar melhor do que na rua… por aí, passando frio, o perigo de um carro atropelar você, ou alguma pessoa malvada colocar veneno na comida e você morrer envenenado, sozinho…” E ele nada respondia. Nada, nunca disse nada. Ficava me olhando, os olhos tristes, porque os olhos do gato também se entristecem, sabe? Não sei se você já notou isso. Poxa, mas ele não ficava aqui, de vez. Não dizia por que nem pra onde ia. Só chegava assim, à noitinha, logo depois que a Teresa Cristina chegava com os filhos. Às vezes acho que ele queria dizer por que motivo não ficava, mas daí desistia, não falava nada, ficava assim capiongo, como dizia minha mãe. Aí, depois ia pra perto da Teresa Cristina, e tudo era esquecido. Assunto encerrado. Até eu ter coragem de pedir novamente pra ele ficar.
— Sei.
— Mas, tempos depois, descobri por quê.
— Jura? E por quê?
— Porque o Gaspar tinha família, morava a cinco quadras daqui, casa própria. Você sabe que a casa é deles, né, dos gatos? Mas eles deixam a gente usufruir das coisas.
— Verdade.
— Mas sabe na casa de quem ele morava?
— Não, não tenho a menor ideia.
— Da Juliana, minha filha.
— Não acredito, Dona Aracy! Que coisa incrível!
— Pois acredite. É a pura verdade! Talvez seja por isso que ele procurou minha casa, que ele tinha aqueles olhos tristes, que vinha me visitar e, silenciosamente, me olhava, como se quisesse me dizer alguma coisa.
Dá uma pausa no relato, depois continua, reflexiva:
— E eu sei o que ele queria me dizer.
— E o que ele queria lhe dizer, Dona Aracy?
— Que minha filha me amava, mas não sabia como. Não sabia me dizer, minha filha não conseguia me dizer, mas me amava. Então, o Gaspar me dizia com aqueles olhos.
Assenti com a cabeça e com o olhar, sem poder responder com palavras, que me escaparam, e sem entender como Dona Aracy chegou a essa conclusão.
Ela continuou:
— Você deve estar se perguntando: “Mas como é que D. Aracy não sabia que a filha dela criava o gato que visitava ela todas as noites?” E eu lhe respondo: porque nunca visito minha filha, ela nunca tá em casa, nem o marido dela, os filhos no colégio, nas aulas de inglês, francês, na natação, não sei mais o quê. Quem cuidava do Gaspar, assim como dos meus netos, era Jacinta, a empregada de minha filha.
— Quando a senhora descobriu?
— Quando minha neta completou quinze anos. Fizeram uma festança lá, aí me convidaram. Fui a uma cabeleireira aqui perto, fiz penteado, maquiagem, botei perfume e fui toda deslumbrante, vestido longo, pra festa de quinze anos da Fernanda. Usei até uma joia no pescoço, um cordão de ouro branco com uma safira, que foi de minha mãe, tava guardado há anos no meu porta-joias. E no dedo um anel bonito que ganhei do meu marido quando ele viajou pro Rio, nos anos sessenta, lindo, com brilhantes. Ah, eu tava tão elegante! As pessoas, que sempre me veem do jeito que eu tô aqui, desarrumada e sem maquiagem, comentaram: “Dona Aracy, que chique, que luxo, que maravilhosa a senhora tá!” E eu, assim, o olhar por cima de todos, como o meu Gaspar, com minha bolsa de couro, presente do meu filho, parecia que flutuava, parecia Claudia Cardinale naquela cena daquele filme italiano famoso, preto e branco, sabe? Ah… A festa linda, convidados, comidas e bebidas chiques, salgados, doces e canapés de todo tipo. E eu, no meu canto, faceira, mas não olhava pra ninguém não, não dava confiança, tinha que mostrar que eu era uma soberba femme fatale — e ri, levando a mão à boca, envergonhada do deslumbre.
— Deve ter sido inesquecível. Mas como a senhora notou, quero dizer, como a senhora ficou sabendo do gato, do Gaspar?
— Bem, foi só no final da festa, eu já tinha tomado minha bebida preferida, algumas tacinhas de xerez, tava alegrinha, quando vi, todo preguiçoso, o meu Gaspar em cima de uma espécie de divã, numa salinha onde fica o piano da minha neta. Sabe, minha neta toca piano divinamente bem… olha, isso me emociona. Aquele lugar, a festa… minha neta, meu neto, os convidados, todos ali. Minha filha, meu genro, os amigos médicos, gente importante… — a velha embarga a voz, respira fundo, mas consegue prosseguir: — Vi o Gaspar, meio dormindo, cochilando. No início, fiquei sem acreditar que era ele. Olhava, olhava, e o gato, aquele gato que ainda não era, não parecia o Gaspar, porque estava num lugar estranho… o efeito do xerez, sabe?, o ruivo suspirando, deitado naquele canapé, com a cabeça sobre as patinhas cruzadas. Então, minha filha apareceu com uma taça na mão e me viu olhando fixamente pro meu Gaspar, aí me falou: “Mãe, tá sozinha aí? O que foi?” E eu, meio sem acreditar que era o Gaspar, falei: “De quem é esse gato? Onde vocês arranjaram ele?” Minha filha disse assim: “Mãe, esse gato sempre foi daqui de casa, por quê? O nome dele é Átila”. Eu disse: “Átila?”, torcendo o nariz, com um tom… assim, como se tivesse falando mal do nome que escolheram. Um nome tão feio! Me aproximei e vi que era o meu Gaspar. Alisei o pelo dele e disse: “Gaspar, como você veio parar aqui nessa festa, menino?” E cantei a canção do Gaspar, a que ele sempre gostava quando escutava: Vento que balança as palhas do coqueiro, vento que encrespa as ondas do mar… O Gaspar acordou, preguiçosamente, olhou pra mim e sorriu. Levantou-se, espreguiçando-se, fazendo seu alongamento: as patinhas da esquerda pra frente, as da direita pra trás, depois o contrário; e aquele bocejo que só ele fazia. E veio roçar a cabeça na minha mão, pedindo um cafuné, mas antes me jogou um beijo. Aquela piscadinha que eles dão quando querem mandar beijo, sabe? Minha filha disse: “Veja só… Átila, você conhece minha mãe, seu safadinho…” Mas o meu Gaspar nem aí pra Juliana, era como se ele só conversasse comigo. Eu já não tinha muito controle sobre a situação e me bateu uma vontade danada de levar o meu Gaspar pra casa. Era como se minha filha tivesse tirado um filho meu, a única coisa de valor que eu tinha. Nem aquelas joias valiam mais do que o Gaspar. Peguei o gato no colo e saí da sala de música. Minha filha me acompanhou e me perguntou aonde eu ia com o gato debaixo do braço: “Mãe, você não pode sair por aí com o Átila! Você vai cair com o gato! E essa taça na mão?! Vai se machucar, mãe!”. Eu me dirigia pra porta de saída, nem dava ouvidos à Juliana. Ela insistia, já meio nervosa, aí eu respondi que o gato não era dela, era meu, e que ele não se chamava Átila, que Átila era um nome horroroso, que ele se chamava Gaspar. Ela tentou tirar o gato do meu colo, mas o gato ficou irritado e arranhou o rosto dela. Sangrava, o arranhão foi grande. Minha filha começou a chorar e chorar, eu fiquei atordoada, sem saber o que fazer, e o Gaspar, assustado, saltou e correu pra fora, contornou a piscina e subiu o muro, sumindo entre as copas das árvores, na escuridão da noite. Minha filha começou a se descontrolar, porque percebeu que o rosto dela sangrava, e o sangue se misturava à maquiagem e às lágrimas. Ela caiu de joelhos e começou a gritar. E depois começou a urrar de raiva, como se fosse um animal selvagem. Não reconheci a Juliana mais. Eu chorava sem parar e não conseguia me mover dali. Daquele momento em diante… — embarga a voz, chora, soluça, enxuga as lágrimas e não consegue continuar o relato, as mãos trêmulas, segurando a jarrinha.
— Sente-se, Dona Aracy, sente-se, por favor — conduzo-a até a varanda, ela se senta na cadeira de balanço. Coquetel se aproxima das pernas dela. Mia. Dona Aracy diz que o gato quer consolá-la.
Peço-lhe permissão para pegar um copo d’água. Ela concorda e me indica onde fazê-lo. Trago-lhe um copo com um remédio para hipertensão, que ela também me requerera. Ela sorve a água, com alguns goles, depois de pôr o remédio na boca. Vai se acalmando aos poucos. Desculpa-se pelo ocorrido, pois não esperava — acrescenta — que fosse me chatear com suas coisas, àquela hora da noite, após eu ter relaxado depois de uma caminhada.
— De maneira nenhuma. A senhora não precisa desculpar-se.
Dona Aracy prossegue, afirmando que sua filha, enquanto se levantava do chão, depois de manter-se ajoelhada por um tempo, disse-lhe que o ocorrido demonstrava bem o porquê de ela ser uma velha soli…
— Ela não terminou a frase — diz com a voz ainda trêmula. — Ela parou no meio da palavra “soli”, não teve coragem, mas sei que queria dizer que aquilo demonstrava por que eu era uma velha solitária. Não sou tola. Disse a ela que eu era velha, sim, mas não era solitária, porque tinha meus gatos, pessoas melhores, muito melhores que os seres humanos. Ela riu, mesmo chorando, me disse que eu era uma velha louca, ao tratar gatos como pessoas. Disse que o gato era da Fernanda e que, se eu quisesse o “animal” — assim se referia ao meu Gaspar —, que pedisse a ela, minha neta. Voltei pra casa. Desde esse dia não voltei mais a ver minha filha.
— As coisas vão se acertar, Dona Aracy, sua filha vai voltar a ver a senhora. Tenho certeza.
— Já nem tenho mais esperança, meu filho. Mas, se é verdade que a esperança é a última que morre, espero que se cumpra o ditado, que seja depois de mim — tomou a água que sobrara no copo e disse que queria me mostrar uma coisa.
Pegou-me pela mão, e, com passo ligeiro, atravessamos a casa, de estilo colonial e piso revestido de mosaicos antigos. Passamos pela sala ampla, com cortinas brancas e bufantes nas janelas e com sofá e poltronas antigas, de tecidos sóbrios, gastos; depois, pela cozinha espaçosa, com eletrodomésticos ainda mais velhos, caçarolas, frigideiras e panelas enormes dependuradas em ganchos na parede, sugestivas de uma época em que a casa era frequentada por outros comensais; em seguida, cruzamos o alpendre, de base arqueada, com madeirame meio apodrecido, e logo atravessamos o caramanchão, repleto de plantas escandentes muito bem cuidadas, lágrimas-de-cristo, parreira e alamandas-amarelas e roxas, o que demonstrava o enorme apreço de Dona Aracy por plantas, chegando, poucos passos depois, ao centro do quintal, parcialmente iluminado, ocupado em sua maior parte, além do gramado, por um bonito jardim. Ao fundo, junto a um roseiral e sob a copa de uma mangueira, havia uma pequena cruz de madeira, de cores púrpura e dourada, cravada num diminuto sepulcro de pedras, no qual se podia ler com certa dificuldade a seguinte frase, inscrita com cores idênticas às da cruz, numa lápide com não mais que um metro de extensão: “Gaspar, vestido com o manto púrpura de Corinto, vindo do Oriente, trouxe incenso ao Menino Deus”. No entalhe da cruz, uma pequena medalha redonda com tampa de vidro, dentro da qual repousava a foto de um belo gato cor de tangerina.
— Que bonito, Dona Aracy, é como um santuário — disse.
— É o meu Gaspar. Aqui, ele fica mais perto de mim.
Conversamos, ainda, por uma hora. Na sala de estar bastante arejada, a vizinha me ofereceu um cálice de vinho do Porto, um ruby, o melhor que bebi em toda minha vida, depois de lhe contar que morei por um período curto na Cidade do Porto, quando fiz um curso de pós-graduação na universidade, e de quando degustei o vinho licoroso lusitano, do qual guardava boas recordações. Disse-lhe que, naquele período de um ano, cuidei de um gato vadio e enfermo, a que chamei Poirot, em homenagem ao personagem dos livros de Agatha Christie, pois o felino era um dos mais curiosos e astutos que conheci. Poirot cresceu e se transformou num enorme gato alaranjado, tendo permanecido em Vila Nova de Gaia com minha namorada dos tempos de mestrado, depois que voltei para o Brasil. Disse-lhe que, de alguma forma, tive também o meu Gaspar. Enquanto estudava nas madrugadas insones, o gato me velava, deitado ao pé da luminária, perto da qual quase sempre eu deixava um cálice com um invulgar vinho, o que só se tornara possível, nos tempos da bolsa de mestrado, com o “contrabando” de uma cúmplice, Carminho, minha namorada, que era neta de um dos proprietários da Adega Quinta dos Plátanos, de Vila Nova de Gaia, dentre as menos famosas, uma das melhores da região.
Depois de ver que a velhinha melhorara o semblante, despedi-me de Dona Aracy e, nos dias que se seguiram a esse encontro, apressei-me em comprar o enxoval que ainda faltava, pois Helena se apressara em nascer antes do tempo previsto. Lembrei-me, durante o parto, a que não tive coragem de assistir, das palavras de Dona Aracy sobre a crueza na parturição dos felinos. Depois, veio o puerpério de Eva, minha companheira, razão por que, durante algumas semanas, deixei de passar pela casa de minha vizinha, já que cessaram as caminhadas noturnas em favor do despertar madrugador e festivo de Helena.
Quando retomei à minha rotina de caminhadas, fui visitar Dona Aracy e encontrei Juliana retirando os últimos móveis da casa. Perguntei-lhe o que tinha havido com a velhinha. Disse-me que a doença de sua mãe tinha recrudescido consideravelmente nas últimas semanas, e a família tomou a dura decisão de colocá-la num Lar de Repouso. Foram esses os termos usados pela filha, ao referir-se à clínica a que a idosa fora levada. Perguntei-lhe se era possível visitá-la e como poderia fazê-lo. Deu-me o endereço de uma clínica geriátrica no Bairro Dionísio Torres, numa alameda próxima ao Parque do Cocó. Liguei com antecedência e avisei à enfermeira-chefe que visitaria Dona Aracy no sábado à tarde.
Encontrei-a, num fim de tarde, sorridente e bastante afável: o coque bem-feito, de fios acobreados, as bochechas rosadas, os lábios carmesins, mostrando os dentes bem cuidados, e a pele, conquanto flácida, com as rugas naturais da idade, muito bem cuidada; tudo em Dona Aracy transparecia em asseio e dignidade. Tranquila, demonstrava muita felicidade ao me ver, mas ressaltava que a visita era bastante rápida, o que lhe desgostava, já que não podia aproveitar muito minha presença. Perguntei-lhe sobre os gatos. Disse-me que, logo que se recuperasse, talvez uma semana mais, teria permissão para visitar sua casa todas as noites, de modo que pudesse permanecer por um par de horas com seus visitantes noturnos, para dar-lhes de comer e de beber, retornando logo depois, por volta das oito da noite, à clínica, o que seria providenciado por sua filha, segundo acreditava. Pelo que pude compreender, ainda ignorava que Juliana tivesse retirado os móveis da casa, o que lhe permitia conjecturar sobre como tornaria possível a estada em seu ambiente familiar, a limpeza que faria nos cômodos, como conduziria a compra da ração, o asseio das vasilhas, como alimentaria e dessedentaria os felinos etc. Garantiu-me que o roseiral e as plantas do caramanchão e do jardim estavam sendo muito bem cuidados pelo jardineiro que sua filha contratara, que cumpria também a função que a anciã se incumbira nos últimos anos. Mas, enquanto esse dia não chegava, o de retornar parcialmente à sua rotina, com a companhia de seus hóspedes noturnos, pedia-me um obséquio.
Disse-lhe que faria o favor, se fosse, para mim, algo possível de cumprir.
— Fácil, muito fácil. Você tira de letra — disse-me Dona Aracy, cuja maquiagem a tornava ainda mais simpática e acentuava sua faceirice. — Você tem que comprar uma cajuína, é vendida perto de sua casa, ali no Mercado Joaquim Távora, tem que esvaziar a garrafa, ir até minha casa, encher de xerez, tampar com muita vedação e trazer ela pra mim, como se fosse cajuína. Ora, mais fácil do que isso, impossível. Se você concordar, posso contar meu segredo.
— Mas, Dona Aracy, será que não vão notar que a senhora tá tentando trazer bebida alcoólica, sem permissão, pra dentro da clínica?
— Mas isso aqui não pode se transformar numa prisão, meu filho. Nem num manicômio. Eu não tô presa, não cometi crime nenhum, nem tô louca. Ainda não — acrescenta, libertando uma risada gostosa.
— Tá bom, tá bom, então faço sim o que a senhora tá me pedindo. Mas a senhora tem que ter muito cuidado, tem que me prometer que vai beber pouco e só quando for possível, certo? Quando estiver sozinha, sem enfermeiros por perto. E queria dizer uma coisa à senhora: aquele cálice de vinho do Porto, que a senhora me ofereceu no dia do nosso último encontro, foi o melhor de toda minha vida.
É, ele é muito bom, muito bom — abre um sorriso largo. — É herança do meu velho, que será sua também, meu filho. Vinho muito antigo, guardado num lugar fresco — concordou, enquanto eu, por dentro, ria da engenhosidade e da astúcia da velhinha.
— Mas qual é o segredo que a senhora queria me contar?
Levanta-se da poltrona, em que se encontrava até então recostada, vai até uma pequena escrivaninha, tira uma folha de papel da gaveta, que parece ser um rascunho, e me surpreende:
— Tô escrevendo um livro sobre o Gaspar.
— Que maravilha, Dona Aracy! E o que temos aí?
— Olha, meu filho, escrevi já faz algum tempo, logo que perdi meu Gaspar, depois que eu andei lendo algumas coisas.
E lê para mim com uma voz segura e calma:
— Contam que Deus criou o gato para conceder aos homens o prazer de acariciar um tigre. Eu penso um pouco diferente sobre o meu Gaspar, que dorme profundamente no quintal de minha casa, em meio a um lindo roseiral e sob uma cruz de ouro e púrpura. Deus criou Gaspar não só para que pudéssemos acariciá-lo, mas também para que resgatássemos a humanidade que perdemos em razão da indiferença e do abandono, que ainda nos acometem como doenças mortíferas, pois, se conseguirmos conhecer profundamente, na intimidade, os gatos (que são os tigres que comem na mão, como diz um antigo provérbio japonês), tal qual conheci Gaspar em sua altivez e sensibilidade, e se soubermos dar a eles e deles receber todo o carinho, não aceitaremos jamais nenhum delito contra os animais, da mesma forma que não devemos aceitar nenhum crime contra a humanidade. Gatos não são como pessoas; são pessoas de verdade. A pequena obra-prima de Deus, como escreveu Leonardo da Vinci.
Ponho a mão sobre a mão de Dona Aracy e dou-lhe um beijo na testa.
— Que lindo, Dona Aracy.
Ela sorri, suas mãos procuram as minhas, seguram-nas firme. Ela olha nos meus olhos e diz:
— Que bom você ter vindo de tão longe pra me ver, meu filho.