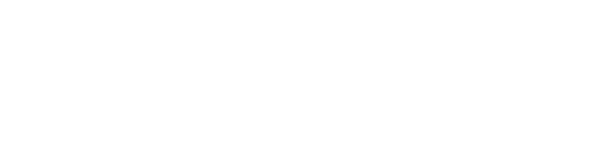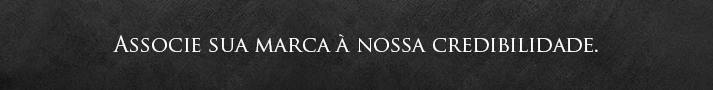Por Hélio Schwartsman
Quando Benjamin Franklin defendeu que os EUA incorporassem o impeachment em sua Constituição, disse que esse instituto era uma maneira melhor que o assassinato de remover líderes detestáveis (“obnoxious”).
Do final do século 18 para cá, a Câmara aprovou acusações de impeachment contra dois presidentes (Andrew Johnson e Bill Clinton), que depois foram absolvidos pelo Senado, e assassinos mataram quatro (Lincoln, Garfield, McKinley e Kennedy) —outros seis escaparam com vida de atentados. Ainda que os americanos exibam indisfarçada preferência pelo assassinato, o impeachment parece mesmo uma alternativa mais civilizada.
Daí não decorre que a tentativa de cassar o mandato de Donald Trump seja um caminho sem riscos. Os americanos não recorrem tanto ao impeachment de presidentes porque na prática é difícil afastá-los. Conseguir o indiciamento na Câmara até que é factível, já que basta a maioria simples dos deputados. Mas, para que o acusado seja condenado e perca o cargo, é preciso obter o voto de 2/3 do total de senadores. Hoje, Trump escaparia: os republicanos têm 53 das 100 cadeiras senatoriais.
Um cenário provável, portanto, é que Trump perca na Câmara, mas vença no Senado, o que poderia até beneficiá-lo eleitoralmente no pleito de 2020. O resultado líquido, como, aliás, já previra Alexander Hamilton, outro “founding father”, é que a simples tentativa de impedir um presidente aumenta a polarização da sociedade —o que nunca é bom para o lado que defende posições mais moderadas.

Os democratas dizem estar cientes do risco e que deflagraram o impeachment não por interesse eleitoral, mas para preservar o país dos abusos de poder a que vem sendo submetido por Trump. Você pode ou não acreditar nisso, mas é forçoso reconhecer que votos, no Senado ou nas urnas, são um meio melhor do que tiros para afastar um líder que se tornou detestável.