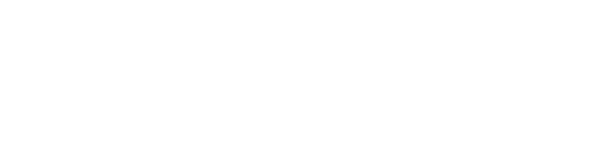Por Celso Rocha Barros
Revista Piauí
Em 2014 tivemos um estelionato eleitoral, que foi ruim, mas pareceu brincadeira de criança se comparado ao fato de que, em 2015, fomos governados por Eduardo Cunha, que, em 2016, quebrou a política brasileira ao meio para entregar a Presidência a Michel Temer, que só não caiu porque entregou à cafetinagem o Tribunal Superior Eleitoral e o Congresso (em duas votações) em 2017. As Forças Armadas invadiram o Rio de Janeiro para garantir foro privilegiado ao ministro Moreira Franco, e a vereadora em quem votei foi executada no meio da rua. Desde que o favorito absoluto nas pesquisas presidenciais foi condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro, o primeiro lugar passou para um fascista, que, aliás, só tem 20% das intenções de voto: se dependesse do eleitorado, essa eleição terminaria zero a zero. Mais ou menos todo mundo foi pego nas delações das empreiteiras.
Ou seja, não seria o pior dos exageros dizer que a democracia brasileira está em crise.
Não há dúvida de que a maior parte do que aconteceu no Brasil provavelmente foi mesmo coisa nossa. Nossos problemas econômicos de longo prazo, os erros de política econômica de Dilma, os defeitos do sistema político, a fragilidade do pensamento econômico de esquerda, o pouco apreço dos conservadores brasileiros pela estratégia de “ganhar no voto”, tudo isso sempre foi bem conhecido, e tudo isso foi importante para ajudar a cavar nosso buraco atual.
Mas também é verdade que a democracia não vai bem ao redor do mundo. O cientista político Larry Diamond criou o termo “recessão democrática” para descrever como, mais ou menos desde 2006, o número de democracias vem caindo, e a qualidade das democracias restantes também. É um processo lento, com reviravoltas, mas a tendência é preocupante.
Afinal, a democracia vinha em uma ascendente de trinta anos: ao fim das ditaduras do sul da Europa seguiu-se a democratização da América Latina, o fim das ditaduras comunistas do Leste Europeu, e alguns processos de democratização na Ásia e na África.
Essa onda democrática, entretanto, parece ter chegado ao fim e, talvez, começado a refluir. Na Europa, Polônia e Hungria são governadas por partidos de extrema direita que vêm eliminando barreiras legais ao exercício de seu poder. A Venezuela e a Turquia tornaram-se ditaduras. Dos países que participaram da Primavera Árabe, só a Tunísia tornou-se democrática. Nem a longevidade no poder do Congresso Nacional Africano, na África do Sul, nem as sucessivas reeleições de Evo Morales são sinais de vitalidade democrática. Durante a crise do euro, as reclamações sobre o “déficit democrático” da União Europeia foram recorrentes, e nos Estados Unidos o presidente é Donald Trump.
Enquanto tudo isso acontecia, Dilma Rousseff caiu, a classe política foi desmoralizada pela Lava Jato, e as instituições brasileiras perderam a reputação de robustez que haviam conquistado nos anos anteriores.
O que uma coisa tem a ver com a outra? A crise brasileira é mais uma manifestação da recessão democrática? O exemplo brasileiro pode ajudar a entender o processo mais geral? Nossos comentaristas e analistas políticos têm ignorado o assunto, como se dissessem: “Não tenho nem roupa para participar da crise global da democracia.”
Para discutir essa questão, apresento a seguir dois livros recentes que tratam da crise da democracia sob ângulos bem diferentes. Em seguida, proponho um ensaio de aplicação dos conceitos de cada um dos livros para explicar a crise brasileira.
Concluo argumentando que a crise da democracia no Brasil se destaca entre suas similares por uma implosão muito mais acentuada do sistema partidário, o que, surpreendentemente, fez com que o sistema político brasileiro se mostrasse mais capaz de se recompor do que seus similares ao redor do mundo.
Os dois livros têm quase o mesmo título, que, entretanto, significam coisas muito diferentes: How Democracies Die [Como as Democracias Morrem], de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, lançado no início do ano nos Estados Unidos, é uma investigação de ciência política comparada sobre como países democráticos podem retroceder para formas autoritárias ou semiautoritárias; How Democracy Ends [Como a Democracia Morre], de David Runciman, a ser publicado em maio, é uma discussão sobre o que pode fazer a democracia, mesmo nos lugares onde ela funciona, aos poucos perder seu significado original e transformar-se em algo irreconhecivelmente diferente.
O livro de Levitsky e Ziblatt – professores de ciência política em Harvard – é empiricamente mais rigoroso, por mais que sua motivação política – o medo de que a eleição de Donald Trump danifique irremediavelmente a democracia americana – seja evidente. Reconstruindo a história da democracia nos Estados Unidos, procuram encontrar o segredo que lhe permitiu funcionar ininterruptamente desde a Independência, bem como aquilo que, nos últimos anos, fez com que parasse de funcionar como antes.
Runciman, professor de teoria política na Universidade de Cambridge, escreveu um ensaio mais especulativo, o que talvez fosse inevitável: seu livro está em busca de sinais que ainda não são padrões. No caso, sinais de decadência democrática nos países ricos. Segundo Runciman, o tipo de retrocesso “tradicional”, evidente, em direção ao autoritarismo ainda pode ser possível no Egito ou no Brasil, mas as ameaças nas democracias consolidadas são diferentes. Seu argumento central é esse: a democracia não vai falhar da próxima vez como falhou da última.
Vou discutir cada livro separadamente, mas antes de mais nada, é preciso dizer: não é um bom sinal que a bibliografia sobre a crise da democracia contemporânea venha crescendo tão rápido.
Atese central de Levitsky e Ziblatt é a de que não foi a excelência da Constituição americana que garantiu a continuidade democrática desde a Independência dos Estados Unidos. A Constituição escrita pelos founding fathers tem muitos méritos, mas, como se sabe, é bastante curta. Há inúmeras brechas para a manipulação das regras do jogo por dentro mesmo da legalidade. Se essas brechas tivessem sido exploradas em todas as oportunidades, a história política americana teria sido muito mais turbulenta.
As condições que autorizam o impeachment pelo Congresso, por exemplo, são vagas: a princípio, todo presidente poderia ser impedido quando perdesse a maioria parlamentar. E, entretanto, isso não acontece. Nos Estados Unidos, ao menos.
Levitsky e Ziblatt argumentam que a democracia americana é sustentada por um conjunto de normas não escritas capazes de impedir que esses pontos cegos da Constituição sejam explorados para desestabilizar o sistema. A primeira dessas normas é o que eles chamam de autocontrole (forbearance): a disposição de se abster de usar contra o adversário todos os recursos institucionais disponíveis, pelo bem do funcionamento do jogo político como um todo. Vários presidentes americanos enfrentaram congressos de maioria oposicionista, e sempre, nesses casos, a oposição conseguiu tornar a vida deles bem mais difícil. Mas quase nunca a maioria optou pela “opção nuclear” do impeachment, preferindo não correr o risco de instabilidade que impeachments frequentes trariam para a democracia. Isto é, demonstraram autocontrole.
O problema, dizem os cientistas políticos de Harvard, é que essas normas não escritas têm perdido força. Pouco antes da eleição de Trump, os republicanos deixaram de respeitar, de maneira bastante aberta, o imperativo de autocontrole: impediram que Obama nomeasse o substituto de Antonin Scalia, um juiz conservador da Suprema Corte, que faleceu no último ano de mandato do presidente democrata. A maioria republicana preferiu esperar a posse de Trump para só então aprovar o substituto, um conservador nomeado pelo novo presidente. Isso não foi ilegal: mas, como notaram Levitsky e Ziblatt, foi claramente uma violação das normas que orientavam as nomeações da Suprema Corte até então. E a democracia não funciona se todas as possibilidades legais forem sempre utilizadas contra o adversário sem consideração pelas consequências.
A segunda regra fundamental é a tolerância mútua. A propaganda contra o adversário pode ser agressiva (e é), mas deve se abster de colocar em dúvida a legitimidade do oponente: você pode considerar seu adversário incompetente, burro, vagabundo, ladrão, mau-caráter, defensor de ideias que prejudicarão muito o país, mas não pode questionar seu direito de participar da disputa democrática como um postulante legítimo.
As tentativas, ao longo do ciclo de governos petistas, de pintar o PT como uma conspiração antidemocrática a serviço do Foro de São Paulo foram violações da norma de tolerância. O mesmo é verdade sobre a propaganda petista contra Marina Silva em 2014, retratando a proposta de autonomia do Banco Central como uma conspiração de banqueiros para roubar comida da mesa dos pobres.
A violação da norma de tolerância é recorrente no discurso populista. Em seu livro recente sobre o populismo, Jan-Werner Müller mostrou como populistas recortam o eleitorado entre “o povo de verdade”, “o povo que importa” e os outros, os estrangeiros ou “penetras” do jogo democrático.
Nesse, como em outros casos, é mais fácil explicar uma regra pela sua violação: quando a escritora Ann Coulter diz que o eleitorado americano não está virando à esquerda, mas sim que está diminuindo (porque está incorporando mais negros, latinos etc.), ela está dando uma aula de populismo, e violando a norma da tolerância.
Assim, para Levitsky e Ziblatt, a eleição de Trump seria o coroamento de um processo de deterioração das normas democráticas americanas. Mas Trump, eles insistem, é um sintoma dessa crise, não seu criador.
Desde o fim da segregação racial a política americana se tornou cada vez mais polarizada. O Partido Republicano passou a ser visto e a atuar como o partido da maioria branca. A desigualdade econômica aumentou, e amplos setores da sociedade americana se sentem “deixados para trás” pela globali-zação. A política americana tornou-se menos tolerante; os conflitos, crescentemente acirrados; e a disposição para jogar pesado (o hardball) contra o adversário é cada vez maior.
Apesar de tudo isso, em seu primeiro ano de mandato Trump não conseguiu quebrar a democracia americana. Certamente gostaria de tê-lo feito. Na campanha, o republicano manifestou todos os sinais de candidatos a líderes autoritários identificados por Levitsky e Ziblatt. Mas as instituições americanas, até agora, foram capazes de controlá-lo. Os trumpistas já disseminam teorias da conspiração sobre o “Estado Profundo” (deep state), uma conspiração de insiders que estariam impedindo o presidente americano de cumprir suas promessas de campanha. Na verdade, quem está contendo Trump são as instituições criadas pelos founding fathers para se prevenir contra presidentes como ele.
Mas seria um erro adotar a atitude complacente de “as instituições estão funcionando”, mesmo em terras distantes em que de fato estão. Afinal, notam Levitsky e Ziblatt, um surto de popularidade de Trump ou uma crise nacional grave – uma guerra, um grande atentado terrorista – pode fortalecê-lo e permitir que consolide sua reversão autoritária. Se isso acontecer, dizem os autores, a América terá falhado em seu verdadeiro excepcionalismo, o projeto de construir uma grande e vibrante democracia multiétnica.
Olivro de Runciman parte do princípio de que, cedo ou tarde, tudo acaba. Será que também a democracia pode, em algum momento, acabar? Trata-se de um fenômeno histórico relativamente recente, lembra o professor de Cambridge. Nada garante que vá durar mais ou menos do que outras formas de governo.
Runciman vê paralelos entre o período atual de crise democrática e a última década do século XIX, marcada por movimentos populistas, teorias da conspiração, mudanças tecnológicas, desigualdade crescente, e a falta de uma guerra (que ofereceria uma experiência de trauma coletivo semelhante àquela que o populismo encena).
Aquela crise da democracia deu origem a uma espetacular era de reformas, em que se consolidaram as duas bases de sustentação da democracia: a garantia de prosperidade futura, conseguida por meio da combinação entre capitalismo e estado de bem-estar social, e o reconhecimento da dignidade individual, pelo respeito aos direitos individuais e o direito ao voto. Nos lugares em que a democracia conseguiu se consolidar, a crise da democracia do final do século XIX a fez ressurgir mais forte do que nunca.
A crise atual, entretanto, dificilmente será resolvida como a do século XIX. Não há como expandir o estado de bem-estar social indefinidamente, e, nos países desenvolvidos, o direito ao voto é universal. Se esses limites já não bastassem, há uma outra característica, bastante particular, específica dos dias atuais, segundo Runciman: os problemas colocados diante da sociedade moderna talvez estejam se tornando ou grandes demais ou pequenos demais para serem resolvidos pela governança democrática.
Por um lado, há uma série de ameaças existenciais pairando sobre a espécie: o risco de guerra nuclear, o risco de catástrofe ambiental, e, talvez, em um futuro não tão distante, o risco de subjugação pela tecnologia.
Não é claro que a democracia consiga lidar bem com esses problemas de grande escala. Os governos democráticos deixaram o problema do aquecimento global chegar a um ponto em que talvez não seja mais possível evitar uma catástrofe. Poderíamos ter votado por limites ao nosso próprio consumo, mas, até agora, não votamos. Da mesma forma, devemos mesmo dar a Donald Trump o poder de destruir o mundo apertando um botão? Mas, se não o fizermos, quem deve ter esse poder? Os generais americanos provavelmente são mais confiáveis do que Trump, mas o quão confiáveis eles são?
Da mesma forma, há um risco real de que a mudança tecnológica comprometa a democracia. O caso mais evidente é a possibilidade de aprimoramento genético para quem puder pagar. Se os filhos dos ricos forem programados para serem superinteligentes ou supertalentosos, será que a igualdade jurídica ainda vai significar a mesma coisa? As possibilidades abertas pela tecnologia podem ser fascinantes: um futuro de automação total em que passemos nossa vida nos divertindo, por exemplo. Mas também podem ser terríveis – uma ditadura de super-homens geneticamente aprimorados, uma vida social destruída pela virtualidade e pela fragmentação da identidade que ela traz. Ainda não temos instrumentos analíticos para prever sequer que problemas teremos nesse front.
Essas ameaças grandes demais para a democracia transferem poder aos tecnocratas e outros tipos de especialistas, que, cada vez mais, também controlam áreas importantes da vida social, como a gestão macroeconômica. Isto é, a participação na gestão dos benefícios de longo prazo do desenvolvimento é cada vez menos decidida democraticamente.
E não basta simplesmente injetar o ruído da democracia na gestão tecnocrática: isso pode funcionar quando o problema é a insensibilidade social ou a inércia dos especialistas, mas e se a gestão do problema exigir o mínimo de turbulência possível? O acrobata será beneficiado se o público começar a urrar sua desaprovação no meio do trajeto? Como saber o que é insensibilidade e inércia e o que, de fato, exige deixar o acrobata em paz? Não é uma questão simples. Naturalmente, todo sujeito inerte e insensível vai mentir que é acrobata.
Por outro lado, a dimensão “dignidade pessoal” da democracia – o respeito aos direitos individuais e à livre expressão dos cidadãos – é cada vez mais privatizada, e cada vez mais deriva para o anarquismo das redes sociais. E esse espírito ultrademocrático das redes sociais, se tem um lado bom evidente, também traz riscos significativos. Runciman lembra que Tocqueville via nos linchamentos americanos uma manifestação deformada do espírito democrático: a maioria se sente autorizada a descontar suas frustrações nas minorias vulneráveis. Na democracia moderna esses impulsos são domesticados pelas instituições, pela presunção de inocência, pelos direitos das minorias. Mas ainda não há nada disso na democracia das redes. Na frase de Runciman, “nós não linchamos mais; a não ser no Twitter”.
O tipo de individualidade formado pelo anarquismo das redes sociais também desfavorece a política democrática. No Facebook, no Instagram ou no Twitter, as pessoas se acostumam a ter gratificações imediatas, na forma de likes, compartilhamentos, retuítes, comentários. A democracia representativa funciona de outra forma: não gera gratificação imediata, e, como nota Runciman, não foi feita para fazê-lo. O ritmo mais lento dos compromissos partidários, dos procedimentos parlamentares, das negociações e acordos, deveria servir de contrapeso aos vieses cognitivos que nos tornam míopes. Os partidos políticos, em especial, deveriam administrar esse processo de avanços e tréguas, o tempo longo do compromisso.
Daí a tendência recente à substituição do partido – incapaz de gerar gratificações imediatas – pelo movimento. O Podemos da Espanha começou como movimento, o En Marche! de Emmanuel Macron foi criado em torno de seu líder, e o trabalhismo de Jeremy Corbyn representou a tomada do Partido Trabalhista por um movimento. Esses movimentos, para Runciman, são como o Facebook: combinam máxima horizontalidade – as redes, a espontaneidade etc. – com lideranças fortemente verticais. O Facebook é uma rede horizontal, sem dúvida, mas é também, no fim das contas, o brinquedo do Mark Zuckerberg. É ele quem decide as regras do jogo, e as modifica como e quando quer. O mesmo vale para Macron no En Marche!
A conclusão do livro é a de que só a política pode resgatar a política. É preciso que as tentativas de manipulação tecnológica e o poder do mercado sejam enfrentadas por políticos com coragem de desafiar fortíssimos interesses econômicos. O próprio mercado global é uma máquina que saiu de controle, e — – como no New Deal, em reação à crise econômica da década de 30 – a solução é simples: só o exercício do poder político pode limitar o poder do mercado ou da técnica. Só o antigo Leviatã pode enfrentar o novo Leviatã.
Como essas duas perspectivas – a dos cientistas políticos de Harvard e a do professor de Cambridge – se cruzam? Ao final de Como a Democracia Morre, Runciman lamenta que o trabalho de Levitsky e Ziblatt tenha sido publicado quando seu próprio livro já estava pronto, e manifesta sua torcida para que as duas perspectivas se revelem complementares. São?
Há temas em comum entre os dois livros: em primeiro lugar, o caráter muito mais gradual dos retrocessos democráticos recentes. Como notou Runciman, as democracias frágeis têm uma, e só uma vantagem sobre as sólidas: elas sabem quando acabam. Os generais fecham o Congresso, ocupam as estações de tevê, e todo mundo sabe o que aconteceu. Não é só que a democracia pode acabar de forma lenta: há toda uma área cinzenta entre democracia e ditadura dentro da qual é possível se mover com avanços e retrocessos. E talvez a democracia não acabe, ela só passe a significar menos do que já significou.
O caso de sucesso mais evidente da democracia – os países desenvolvidos no pós-guerra – aconteceu quando a discussão política se dava em torno de pautas de “médio alcance”, como o tamanho do estado de bem-estar social ou os níveis de tributação. Conforme essas questões foram resolvidas (ou excluídas da pauta pela exigência de competitividade global), os problemas passaram a girar em torno de temas que talvez sejam grandes demais (o risco de guerra nu-clear) ou pequenos demais (a epidemia de opiáceos nos Estados Unidos). Esse deslocamento do eixo da discussão pode ajudar a explicar por que retrocessos democráticos começaram a afetar mesmo as democracias mais maduras, favorecendo o surgimento de populistas como Trump. A erosão dos valores democráticos identificada por Levitsky e Ziblatt e a necessidade de gratificação imediata discutida por Runciman podem ser processos que se alimentam. A desigualdade de renda, que para Levitsky e Ziblatt faz crescer a polarização partidária, em Runciman (seguindo Paul Krugman) dificulta a articulação política em torno da produção de bens públicos.
Além disso, é possível pensar em um cenário em que o esvaziamento da democracia descrito por Runciman torne um retrocesso como o descrito por Levitsky e Ziblatt mais provável. Por mais que a política se transforme, é bem provável que o controle da máquina estatal continue a ser um bom negócio. Se os vínculos entre expectativas e valores do público das redes – cada vez mais imediatistas – e a realidade da política institucional se esvaziar, a disputa pelo poder vai continuar, agora sem o público e sem valores. Se decidirmos, definitivamente, que o poder não nos representa mais, podemos ter certeza de que alguém vai torná-lo seu representante. E é muito improvável que o vencedor dessa briga não seja quem já conta com recursos de poder consideráveis.
Talvez os dois livros tenham o mesmo defeito: é bem claro que o pano de fundo de suas análises é a crise de legitimidade do liberalismo depois da crise financeira de 2008, mas a crise e seus desdobramentos não são partes importantes de nenhum dos dois livros. Ao menos como respostas às analogias correntes com os anos 30, que transcorreram sob o impacto da crise de 1929, a crise de 2008 merecia mais atenção em uma explicação da crise atual nas democracias.
A desigualdade já vinha crescendo havia um bom tempo, mas em 2008 ficou claro que ela não seria revertida em prosperidade geral: ao contrário, os governos salvaram os bancos (como era mesmo necessário fazer) e deixaram os pobres entregues à própria sorte (o que foi um crime). A União Europeia, símbolo de integração pacífica entre países, passou a ser vista como uma agência de cobrança que vetava ou aprovava os líderes eleitos em cada país-membro. Os países ricos já eram cheios de imigrantes, mas até pouco tempo atrás o multiculturalismo era só uma das manifestações de uma integração cultural global que prometia prosperidade para todos. Como os trabalhos do cientista político Peter Mair já haviam mostrado, os partidos políticos vinham perdendo legitimidade, mas a alternativa a eles foi, por um bom tempo, o desinteresse e a abstinência eleitoral. Só recentemente esses partidos enfraquecidos tiveram que enfrentar a concorrência de movimentos populistas agressivos. Não é por acaso que Trump centrou fogo nas elites cosmopolitas dos grandes centros, ou que todos os outsiders europeus – à esquerda e à direita – centrem fogo em Bruxelas.
A análise da crise global também é importante por outro motivo: a “política de médio alcance” de que fala Runciman desapareceu porque faltam boas propostas para encaminhar um novo pacto social como os que foram alcançados pela social-democracia do pós-guerra ou pela “terceira via” da primeira fase da globalização. Há boas razões para suspeitar que a solução da crise da democracia passe pela recomposição do pacto social em torno da globalização. Se um novo compromisso começasse a gerar prosperidade compartilhada nos países ricos amanhã, é provável que quinze dias depois as ameaças populistas já estivessem bem mais enfraquecidas, e as partes desse novo acordo mínimo servissem de base para um renovado padrão de concorrência eleitoral.
No geral, os dois livros têm muitas semelhanças e pontos de contato, mas, além das semelhanças, há, sim, complementariedades. Runciman dá mais atenção aos problemas que se apresentam à democracia e à sua relação com a vida na sociedade contemporânea. Levitsky e Ziblatt dão mais atenção à competição política no sentido mais estrito (disputas entre partidos etc.) e à deterioração das instituições. Supondo que a competição política dependa do que acontece na vida concreta das sociedades, e que as instituições dependem de legitimidade produzida culturalmente, é fácil ver que as duas perspectivas se complementam.
Vejamos agora como esse cruzamento de perspectivas pode nos ajudar a entender a atual crise democrática brasileira, a maior desde a redemocratização.
Um dos elementos mais importantes da política brasileira nos últimos anos foi o surgimento de uma política da indignação sustentada pelas redes sociais. O papel dessa política de indignação nas manifestações de 2013 e na luta pelo impeachment é evidente, mas ela é fundamental para entender como a Lava Jato funcionou desde 2014: foi por meio das mobilizações nas redes sociais que o sistema político mediu o grau de insatisfação popular contra as diversas tentativas de interromper as investigações.
Mas desses três processos – junho de 2013, as passeatas da Paulista, a mobilização pela Lava Jato – só um foi claramente bem-sucedido: Dilma Rousseff caiu. As manifestações de 2013 tiveram efeitos políticos modestíssimos, e a Lava Jato vem sofrendo derrotas cada vez mais frequentes desde o impeachment.
O que isso nos diz sobre o tipo de política das redes sociais que preocupa tanto Levitsky e Ziblatt quanto Runciman? A experiência brasileira é clara: a política das redes só foi eficaz quando teve um ponto de entrada na luta política tradicional.
Saudada como “refundação da república” pelos mais exaltados no momento em que aconteceram, as manifestações de 2013 perderam prestígio. A direita perdeu o interesse quando teve seu próprio 2013, as manifestações pelo impeachment. E, na esquerda institucional, a interpretação dominante tornou-se algo mais ou menos assim: voluntária ou involuntariamente, talvez (nas interpretações mais doidonas) com participação estrangeira, as manifestações de 2013 ajudaram a criar uma onda conservadora que deu origem ao impeachment (ou golpe) de 2016. O culto a “Junho” sobrevive, entretanto, no PSOL, na Rede Sustentabilidade, entre os anarquistas e na esquerda universitária.
Mas as manifestações foram simplesmente espetaculares. As grandes cidades brasileiras pararam. Foi, provavelmente, a maior onda de manifestações da história do Brasil. Subitamente, pequenos grupos da esquerda não lulista (o Movimento Passe Livre, os coletivos anarquistas, os black blocs) pautavam a vida nacional. O efeito de espetáculo dos carros queimados gerou evidente fascínio, ao mesmo tempo que todos manifestavam seu repúdio à violência. O aumento da tarifa de ônibus foi cancelado, e todos nos familiarizamos com personagens como Sininho, Game Over, Pablo Capilé e a economia dos “cubo cards”.
E, entretanto, Junho não deixou nenhum legado institucional. Não teve nenhuma influência sobre a eleição presidencial seguinte, vencida pela situa-ção. Nenhum dos líderes do movimento teve uma carreira de sucesso. Poucos anos depois de termos discutido a sério ônibus de graça para todo mundo, estávamos debatendo que escolas fechar porque o dinheiro acabou.
Nenhum movimento ou partido foi fundado a partir de Junho de 2013. O partido que mais se aproximou do espírito de Junho foi a Rede Sustentabilidade, de Marina Silva, legenda que até hoje enfrenta seríssimas dificuldades para se consolidar. A Rede Sustentabilidade, aliás, apresenta diversos problemas que Runciman identifica em movimentos como o En Marche! (e no Facebook): tem alta horizontalidade, mas, ao mesmo tempo, é o brinquedo de Marina Silva, como o En Marche! é de Macron. Entre os dissidentes da Rede, são comuns reclamações sobre a concentração de poder em torno do círculo de Marina (no qual só ela tem peso eleitoral). Nenhum partido tem mais a cara de “Junho” do que a Rede Sustentabilidade, e a Rede não conseguiu se consolidar. Seria culpa de Junho?
Talvez seja, ao menos em parte. A baixa tolerância à frustração, identificada por Runciman na política das redes sociais, pode ter contribuído para evitar que Junho de 2013 tenha deixado legados políticos consistentes. O “não me representam” pode não ter sido apenas uma crítica à classe política realmente existente, mas um desafio à própria ideia de representação, uma falta de tolerância ao tempo lento do compromisso. A Rede Sustentabilidade vem demonstrando grande dificuldade em fazer alianças, e mesmo críticos simpáticos ao partido (como eu) se preocupam com a estratégia que a Rede adotaria para montar uma maioria parlamentar se Marina vencesse a eleição presidencial. Há algo de narcisista nesse purismo, como há algo de narcisista na política das redes sociais.
Ainda acho que as manifestações de 2013 foram bem-vindas, porque a situação da classe política brasileira, nos termos de Runciman, era muito mais parecida com a do político inerte do que com a do acrobata na corda bamba. Mas a consolidação desse tipo de atitude pode ter sido prejudicial. Imaginem a vantagem para o país se, em 2015, houvesse um partido forte capaz de bancar a pauta da convocação de novas eleições em vez da fraude do impeachment?
Os movimentos pelo impeachment foram outra história. Também se caracterizaram pela utilização ativa das redes sociais, e usaram amplamente o repertório das manifestações de 2013 (inclusive o slogan “Vem Pra Rua”). A diferença crucial é que a turma de 2015 não teve pudor de se aliar a um dos lados da briga política institucional, a direita, e abandonar a reivindicação de “apartidarismo” assim que Dilma caiu. Seus líderes hoje são assessores de políticos e concorrem a cargos eletivos. O Movimento Brasil Livre tornou-se um pequeno exército de trolls de internet que negocia seu apoio a candidatos presidenciais de qualidade duvidosa.
Ao aliar a política de indignação das redes com o que havia de mais poderoso na política institucional – os partidos de direita, os ricos –, o movimento pelo impeachment tornou-se muito diferente de Junho, mas muito parecido com os movimentos populistas que venceram ao redor do mundo.
A insurreição de Trump teve tempo e lugar: aconteceu nas prévias partidárias. Depois disso, ele concorreu como o legítimo candidato do Partido Republicano. Como notaram Levitsky e Ziblatt, o trágico é que a legenda tenha deixado de desempenhar sua função de filtro contra gente como Trump, permitindo que, daí em diante, a eleição fosse “normal” (e o normal é a troca do partido na Presidência de oito em oito anos). Da mesma forma, o Brexit aconteceu pelas mãos do Partido Conservador britânico, e é difícil imaginar algo mais establishment do que os tories. David Cameron imaginava que o Brexit seria derrotado no plebiscito, enfraquecendo o Ukip (sigla em inglês para Partido da Independência do Reino Unido), que desafiava os tories pela direita. Perdeu, e agora são os tories a implantar o programa do Ukip. Do outro lado, o trabalhismo também se viu tomado por dentro, pelo movimento de Jeremy Corbyn, que foi bem-sucedido onde Bernie Sanders fracassou. Esses movimentos foram vitoriosos porque conseguiram jogar o jogo tradicional de esquerda versus direita. Como o mbl conseguiu, mas a Rede Sustentabilidade não.
E a mesma dinâmica pode ser vista na história da Lava Jato.
A Lava Jato é fruto de um processo de aprimoramento institucional de muitos anos. Mas a conversão da Lava Jato em força política passou por sua absorção pela política de indignação das redes sociais. Quando se fala da pressão da opinião pública em favor da Lava Jato, a esperança (ou o medo) reside exatamente nessa capacidade das redes sociais de organizarem manifestações como as de 2013 ou 2015.
Enquanto a Lava Jato convergiu com o movimento do impeachment, isto é, com interesses poderosos dentro do sistema político, ela fez o que quis. Entre 2015 e 2016 vivemos o que a jornalista Renata Lo Prete chamou de “Império da Lava Jato”. Assim que Dilma caiu, a Lava Jato tornou-se mais parecida com Junho de 2013: uma expressão poderosa de indignação popular que, entretanto, não conseguiu produzir um Leviatã que enfrentasse o Leviatã do outro lado. Assim que deixou de ser bom negócio para a direita, e com a esquerda já denunciada, a Lava Jato começou a refluir.
A Lava Jato, como as manifestações de 2013, atacava o sistema político como um todo. A direita conseguiu apoiar a Lava Jato hipocritamente enquanto as denúncias não chegavam até ela, mas, no fim das contas, todo mundo era financiado pelo cartel das empreiteiras.
E aqui talvez esteja a chave para entender a especificidade da crise democrática brasileira diante das outras: exatamente porque ela foi mais grave que as outras – porque a Lava Jato explodiu o sistema partidário –, a política de indignação popular não achou uma brecha no sistema político. Não havia mais partidos fortes para fornecer-lhes um ponto de entrada, como os republicanos foram para Trump, os tories para o Brexit ou os trabalhistas para Corbyn.
Longe de dar o poder a um outsider, a turbulência política no Brasil derrubou Dilma Rousseff para promover uma extraordinária recomposição do sistema.
No livro de Levitsky e Ziblatt, um dos exemplos de exercício de autocontrole institucional é justamente a parcimônia com que o instituto do impeachment sempre foi utilizado pelos americanos. Podemos acrescentar que o próprio fato do julgamento do impeachment ser realizado pelo Congresso – e não por um tribunal – mostra o quanto os legisladores se preocuparam com as consequências políticas do processo. Não se trata, nem de longe, de uma questão eminentemente jurídica. É a redistribuição, pelo Congresso, do principal prêmio em disputa em um sistema presidencialista – o cargo de presidente da República. É o tipo de coisa que pode degenerar em guerra civil. Ao final do livro, Levitsky e Ziblatt acautelam os democratas: só pensem em impeachment para Trump se isso for resultado da construção de um grande consenso nacional que envolva também parte importante da direita. Aceitem compromissos programáticos com a direita moderada se isso for necessário para derrotar o radicalismo de Trump.
O impeachment de Dilma Rousseff, em contraste com as recomendações de Levitsky e Ziblatt, foi realizado assim que se tornou institucionalmente possível: quando Eduardo Cunha deu início ao processo, em represália ao voto do PT contra ele no Conselho de Ética. Não houve qualquer esforço de estabelecer um consenso entre esquerda e direita durante o impeachment de Dilma – ao contrário do que houve no impeachment de Collor. Os votos a favor e contra o impeachment são mapeáveis quase que perfeitamente na divisão direita versus esquerda no Congresso. Temer chegou ao Planalto com um programa de governo claramente pró-mercado, o que impediu que os partidos de esquerda concorrentes do PT apoiassem o impeachment. O impeachment de Dilma foi um ato de poder de um dos lados do espectro político – o lado que havia perdido em 2014 –, exercido como gesto de autoafirmação, sem qualquer esforço de incorporar bandeiras do outro lado.
E o impeachment foi só a conclusão do processo que Levitsky e Ziblatt chamaram de hardball, o uso de toda e qualquer possibilidade institucional para derrotar o adversário.
A direita tentou impedir a posse de Dilma Rousseff com base em boatos de Facebook: passado algum tempo, o candidato derrotado em 2014, Aécio Neves, admitiu que havia entrado com o processo “só para encher o saco”. E a eleição de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados foi um marco: daí em diante, as instituições brasileiras seriam ligadas ou desligadas conforme o interesse dos derrotados de 2014.
Em seu segundo mandato, Dilma tentou corrigir as atrocidades que fez na gestão macroeconômica no primeiro, que, não custa enfatizar, foram inúmeras. Ninguém deixou. Essa mesma turma que agora faz anúncio “Sem a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar” votou a favor do fim do fator previdenciário em 2015 para impedir Dilma de arrumar as contas públicas. Ao menos demonstraram coerência – involuntária – fracassando em aprovar a reforma durante o governo Temer. Eduardo Cunha esvaziava o plenário quando os vetos de Dilma às pautas-bomba iam à votação, e todos os parlamentares direitistas, dos mais radicais aos mais moderados e pretensamente civilizados, deixavam o recinto como um rebanho dócil.
Na verdade, o Brasil teve outra Constituição em 2015-2016, e ela foi revogada após o impeachment. Em 2015, delações eram provas suficientes para derrubar políticos e encerrar carreiras. Em 2017, deixaram de ser. Em 2016, era proibido nomear ministros para lhes dar foro privilegiado; em 2017 deixou de ser. Em 2016, os juízes eram vistos como salvadores da pátria, em 2017 viraram “os caras que ganham auxílio-moradia picareta”. Em 2015, o sujeito que sugerisse interromper a guerra do impeachment em nome da estabilidade era visto como defensor dos corruptos petralhas; em 2017 tornou-se o adulto no recinto, vamos fazer um editorial para elogiá-lo. Em 2015, presidentes caíam por pedaladas fiscais; em 2017 não caíam nem se fossem gravados na madrugada conspirando com criminosos para comprar o silêncio de Eduardo Cunha e do doleiro Lúcio Funaro. Em 2015, a acusação de que Dilma teria tentado influenciar uma decisão do ministro Lewandowski deu capa de revista e inspirou passeatas. Em 2017, Temer jantou tantas vezes quanto quis com o ministro do Supremo Tribunal Federal que o julgaria no TSE e votaria na decisão sobre o envio das acusações da Procuradoria-Geral da República contra ele, Temer, ao Congresso. Em 2015, Gilmar teria cassado a chapa Dilma-Temer. Em 2017, não cassou.
Oleitor pode ter qualquer opinião sobre temas jurídicos: talvez não lhe pareça razoável considerar delação como prova; talvez não fosse razoável cassar a chapa no TSE; talvez seja legítimo nomear ministros para lhes dar foro privilegiado; talvez seja errado prender logo após o julgamento em segunda instância; talvez valha o benefício da dúvida quando o presidente é gravado combinando crimes.
O que é obviamente errado, e indiscutivelmente aconteceu no Brasil nos últimos anos, é um dos lados da disputa política ter o poder de ligar ou desligar instituições conforme seus interesses.
E lembrem-se: não se trata só da conquista da Presidência. Os áudios de Romero Jucá deixaram claro que o impeachment era uma contrarreforma, uma reação do sistema contra a Lava Jato. Não há dúvida de que o PT teria parado a operação, se pudesse – desde que caiu, o partido só fala nisso. Mas não era a esquerda quem tinha poder para fazê-lo. Como já vimos, depois que a Lava Jato deixou de servir de degrau para o impeachment, sua luta contra o sistema político tornou-se muito mais desigual. A operação ainda continua, e talvez ainda produza frutos, mas o Império da Lava Jato caiu.
Além disso, a elite econômica mostrou-se capaz de controlar o timing das quedas dos políticos. Dilma caiu quando era presidente. Lula foi condenado quando liderava a pesquisa presidencial. Cunha foi poupado até a semana seguinte da aprovação do impeachment. Se Temer for investigado, será quando nenhuma reforma desejada pelo mercado depender mais dele. Se Temer caísse em 2017, se Cunha caísse em 2015, a Bolsa despencaria na hora (como despencou no Joesley Day). Quando Cunha caiu em 2016, a Bolsa continuou feliz da vida. Se Temer cair em 2019, será a mesma coisa. Se quiserem ver poder, poder de verdade, procurem quem teria perdido dinheiro se a Bolsa tivesse caído.
Mesmo sem supor qualquer viés conservador nos investigadores da Lava Jato, seu efeito sobre cada um dos lados da disputa política foi claramente enviesado: a direita conseguiu segurar os seus no poder até eles perderem importância. A esquerda perdeu uma presidente e um candidato favorito.
Isso é poder, meu amigo, poder em estado puro. Aqui já não tem mais norma, não tem mais instituição. E esse exercício descarado de poder é um sintoma claro de que nossa democracia anda bastante doente.
Isto é, no Brasil, ainda mais do que nos Estados Unidos, a norma do autocontrole foi para o espaço até o PT cair. Nossa deterioração institucional foi muito mais grave do que qualquer coisa que Trump tenha feito até agora. Talvez as instituições, em 2019, sejam, por fora, iguais ao que eram em 2013. Mas o fato de que, em 2015-2016, a direita as ligou e desligou conforme seu interesse não vai ser esquecido por ninguém.
Odebate sobre o “golpe de 2016” corre o risco de obscurecer a natureza e a dimensão da crise democrática brasileira. A essa altura, só gente muito protegida na própria bolha ideológica dirá que a democracia brasileira não está funcionando muito pior do que funcionava até 2015. Mas talvez “golpe” não seja mais o conceito relevante aqui: talvez a democracia brasileira, nos termos de Runciman, esteja dando errado de uma forma diferente.
O impeachment de 2016 fez parte de um processo maior de deterioração democrática, que só se acelerou desde então. As normas de tolerância e autocontrole deixaram de operar em grau muito mais intenso do que nos Estados Unidos de Trump ou no Reino Unido do Brexit. A separação entre a política macro em que foi decidido o ajuste fiscal e a política micro da indignação moral foi total. Talvez a política de indignação das redes sociais consiga se transformar em uma força positiva na política brasileira, mas, até agora, só foi escada para as manobras palacianas mais cínicas possíveis. E a recomposição do sistema político por meio do impeachment ainda arrisca fortalecer movimentos populistas nas eleições deste ano.
A democracia brasileira está em crise, o mesmo tipo de crise que diversos países do mundo vêm experimentando desde a crise de 2008. Demos mais sorte do que os países em que a democracia colapsou, como a Venezuela ou a Turquia, mas foi particularmente ruim ter que administrar os efeitos da “nova matriz econômica” enquanto a política brasileira desmoronava.
Oque o exemplo brasileiro sugere, portanto, é que fenômenos como Trump ou o Brexit dependeram dos sistemas partidários estarem em crise, mas não destroçados. A bomba atômica da Lava Jato tornou a política partidária brasileira inutilizável pela indignação popular. E, como seria de se esperar, a indignação popular, sozinha, não é suficiente para construir partidos: é bem mais fácil fazer uma passeata ou um linchamento com a indignação popular do que uma aliança partidária ou uma composição de interesses semelhantes. Justamente por ter sido mais aguda do que as outras, a crise democrática brasileira, até agora, terminou com o sistema recomposto, não com a ascensão de um outsider.
Dentro de poucos meses, teremos uma eleição presidencial. Só então saberemos como acaba essa história. Talvez o sistema se apresente recomposto e os partidos tradicionais consigam disputar a Presidência como vinham fazendo. Talvez novas forças partidárias – seja a Rede de Marina, seja o PDT repaginado de Ciro Gomes, seja o PSL de Bolsonaro – consigam quebrar a recomposição da era Temer.
Neste caso, teríamos um difícil processo de negociação entre a insurreição eleitoral e a recomposição do sistema. O próximo mandato exigiria compromissos muito mais inteligentes do que os que fomos capazes de estabelecer desde o início da crise da democracia brasileira.
É difícil saber como a crise da democracia dos anos 2010 será vista no futuro. Talvez a recomposição do sistema e o fim da Lava Jato pareçam menos piores por comparação, se os outsiders pelo mundo afora se revelarem muito mais nocivos do que foram até agora. Talvez o arranjo pós-impeachment tenha sido o pior dos mundos, e ainda tenhamos que enfrentar um surto populista que se some à sequência das tragédias “nova matriz econômica” e impeachment. Uma alternativa perfeitamente possível é que um presidente Bolsonaro recorra ao autogolpe e nossa geração tenha votado pela última vez.
Talvez haja movimentos positivos acontecendo que ainda não estejam no radar. E talvez tudo seja lembrado apenas como uma sequência estúpida de erros grotescos conduzida por personagens ridículos demais para serem lembrados de uma forma ou de outra. Se a economia melhorar, é possível que voltemos à vida normal e todo mundo prefira não falar mais nisso. Há cenários piores.
Mas a crise sempre é uma aula. Aprendemos que, independente de quem vinha ganhando eleições presidenciais, a direita é incomparavelmente mais forte que a esquerda, e as instituições brasileiras eram mais fortes quando o lado mais fraco estava no poder. E aprendemos que a política de indignação das redes sociais pode, sim, influenciar a política, mas não conduzi-la; e isso a torna presa fácil para manobras cínicas da velha política.
A política de indignação não conseguiu produzir seu próprio Leviatã, e, sem isso, nosso velho Leviatã está cada vez mais soltinho.