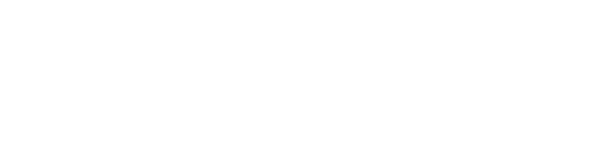Por Jessé Alexandria
“- Algum viajante – lembrou o poeta Abdalmalik – fala sobre uma árvore cujo fruto são pássaros verdes.”
(A busca de Averróis, de Jorge Luís Borges)
Era o equinócio de outono do ano de 1521 de Nosso Senhor. Propositadamente, desviei-me do caminho de Santiago de Compostela e rumei mais ao norte, em busca do Douro castelhano e de suas belas paragens, de suas lagoas e fontes escuras e dos olmos centenários de sua mata ciliar. Santiago de Compostela me esperaria até o inverno.
O vento, que me dera trégua nos momentos mais difíceis da escalada do monte Urbião, fustigava-me novamente as faces já rubras de frio. O corpo cansado reclamava um quarto aquecido, um cobertor e um bom vinho, para retirar-me de vez as derradeiras forças e dar-me de beber um sono profundo. Caminhava a longo passo de Sória, e, nessas veredas montanhosas, o vento cortante do outono obriga os viajantes a procurar pouso antes do cair da noite.
A montante do velho Douro, um maciço íngreme avançava ao norte e, algumas milhas depois de Covaleda, regatos ruidosos emulavam com rouxinóis que se agasalhavam em robustos choupos, nos quais as folhas precocemente caducas, amarelecidas, ainda resistiam ao vento.
O caminho de Vinuesa, em direção ao norte, se apresentara extremamente perigoso, repleto de assassinos e salteadores, de sorte que busquei as sendas a noroeste da serra, onde Duruelo assomaria mais segura, protegida por São Miguel Arcanjo. Ainda rio acima, uma alameda e alguns salgueiros e cerejeiras se empertigavam entre as rochas escarpadas, quase retilíneas, uma das quais, de cujo cimo e sobre cujo rosto despencava uma densa cascata, de tão alinhada, parecia que fora esculpida pelo cinzel de algum deus pagão. Andorinhas, em revoada, iniciavam sua longa marcha para o sul.
Vencera as sendas tortuosas até Duruelo e, naquele sítio conhecido pelas famosas rochas de Castroviejo, onde vira uma imensa pedra calcária em forma de punho, ou de coração, o sinal de que rumava no caminho certo até a Serra do Urbião, rezei na Igreja de São Miguel Arcanjo, contemplando o Santo Cristo das Maravilhas, pedindo-lhe bênção e proteção. De nave única e abside em arco, com a abóbada sobre capitéis pingentes, em oito partes dividida e na qual oito pequenos óculos de tamanhos irregulares circundam o maior deles no centro da cúpula, todos encravados numa grande estrela-do-mar, através dos quais uma luz filtrada apazigua os ânimos de qualquer cristão que lhe cruze o transepto, a Igreja ergue-se sobre uma pequena colina de pedras roliças, embaixo das quais se diz existir uma antiga necrópole.
Adiante, seguindo a rota do Douro, conduzido pelos regatos que desciam a montanha, pude vislumbrar uma floresta de pinheiros silvestres, que se perdia na amplidão dos penhascos, e
apreciar as águas de uma cascata que descia voluptuosamente à entrada da chamada Cova Serena, enorme fenda na rocha que se assemelha a uma bocarra entreaberta.
Caminhei durante horas, quando, exausto, parei às margens de um regato. Descansei alguns minutos, molhei o rosto com a água gélida que descia mansamente por entre as rochas e deixei na boca, por um instante, para que fosse aquecida antes de engolir, uma porção do líquido que já fora gelo de um dos glaciares da montanha, em torno dos quais, como ciclopes, cumes pontiagudos guardam as fontes sagradas do Urbião, mas não sem me dar conta de que teria de prosseguir a escalada, até o topo do monte.
A noite se precipitava, e já me preocupava o fato de não recordar a localização exata de uma estalagem nas proximidades. Havia muito tempo, estivera nas fontes do Douro, no cimo do monte Urbião, todavia me custava recordar precisamente em que hospedaria repousara. Apressei-me, seguindo o caminho do monte e ladeando o Douro e seus arroios. Uma hora depois, em meio a um pequeno bosque de faias, perto das penhas brancas do monte, deparei com uma estalagem à entrada de uma floresta de pinheiros, situada num altiplano.
Bati fortemente à porta da velha construção de pedra, auxiliado pelo peso da espessa aldraba. Na fachada, esculpido na rocha, havia o ano de sua fundação e pequenos entalhes numa madeira encravada no frontão, desgastada pelo tempo. Em meu socorro, veio de dentro da estalagem uma blasfêmia tipicamente castelhana, seguida de passos lentos e do ranger metálico de um pesado molho de chaves. Pouco depois, ao roçar de uma trava, seguiu-se um forte estalo.
A porta abriu-se, e atendeu-me um velho muito gordo, cabeça enorme e calva, que, de chofre, sem nenhuma mesura, me perguntou o que me levava àquelas paragens num frio crepúsculo outonal. Antes de dar-lhe qualquer explicação, pedi-lhe que me cedesse um lugar qualquer para repousar apenas por uma noite, pois continuaria meu percurso no dia seguinte, aos primeiros raios da aurora. Acrescentei, com a firmeza que a necessidade exige dos espíritos nobres, que não tinha nem ouro nem prata, nem qualquer dádiva que lhe pudesse oferecer, a não ser minha gratidão cristã e alguns momentos prazerosos que minha arte lhe poderia proporcionar naquela fria noite de outono, que se avizinhava. O velho deu de ombros, rosnou algo incompreensível e me disse que, naquele sítio distante do Reino de Castela, os andarilhos não eram sua melhor companhia, seja porque nada de valor lhe podiam oferecer, seja porque, quando seguiam viagem, nunca carregavam consigo a mesma quantidade de pulgas com que haviam chegado. Afirmou, ainda, que os nobres que costumam praticar a caça ao javali naqueles bosques sorianos, no sopé do Urbião, presenteavam-no com algumas moedas de ouro (“rex et regina castile”, enfatizou), a melhor gratidão que se podia oferecer a quem lhes dava repouso, comida e bebida. Quanto às prendas com que os viajantes costumavam perturbar-lhe o sossego, o estalajadeiro opôs que eram como os tributos reais: só agradavam aos espíritos ociosos, porque lhes compravam a preguiça.
– Ócio e negócio são bem diferentes nesses lugares remotos, andarilho – ressaltou.
– Mas esses caçadores, meu senhor, também lhe deixam as pulgas de seus lebréus, e estes levam as deixadas pelos viajantes – zombei do azedume do velho.
O estalajadeiro me perguntou, mal acabara eu de pronunciar a última palavra e sem considerar o que lhe havia dito, o que eu levava nos dois surrões velhos.
– Minha música, senhor: flauta, viola, alaúde e rabeca – disse-lhe com indistinto orgulho.
– Que tipo de jogral vossa mercê é: goliardo, histrião? Por que se desgarrou da farândola? – indagou. – Bem provável que vossa mercê siga um grupo de pedintes maltrapilhos.
Objetei que era um trovador, chamava-me Juan Ponce, que tocara na Corte de Isabel de Castela e que herdara de meus antepassados o gosto pela arte da música, um dos quais se havia apresentado nos salões de Afonso X, o sábio, de Castela e Leão.
– Como vossa mercê bem observa, ando sozinho pelos caminhos cristãos, antes romanos, destas montanhas sorianas.
O velho riu, mostrando os dentes enegrecidos:
– E além de tudo fabulista! Trovadores da Corte não caminham por estas terras, vestindo andrajos e carregando dois surrões puídos, andarilho – rebateu.
Nada respondi; tirei do bisaco a viola, apoiei-a e, ao dedilhar suave as cordas, cantei os versos de “Longe se ponha o sol”:
Longe se ponha o sol
Onde eu tenha o amor.
Lá, o ocaso chegasse
De meus amores viesse
Antes que eu morresse
Com toda esta dor.
Longe se ponha o sol
Onde eu tenha o amor.
Lá, o sol desvanecesse
e o meu amor encontrasse
antes que findasse
Com este rancor.1 2
O velho ficou algum tempo em silêncio, lábios entreabertos e olhos pasmados. Como nada dissesse, perguntei-lhe se conhecia aqueles versos de minha autoria.
– Reconheço um trovador pela virtuosidade com que executa a música, senhor. Peço
desculpas a vossa mercê. É que seus trajes não revelam a condição de quem fora nobre na Corte de Castela e Leão. Chamo-me Gonçalo de Domas. Tenho um quarto que pode abrigá-lo. Não é grande coisa, mas tem água quente e uma cama com um bom cobertor. Posso oferecer-lhe um prato de sopa, um bom vinho e pão terno – respondeu o velho pousadeiro.
Agradeci-lhe a hospitalidade e disse-lhe que, depois da refeição, poderia mostrar-lhe algumas peças musicais que havia colhido nas viagens a Córdova e Granada. Pedi ao estalajadeiro que me acompanhasse na refeição, mas Gonçalo de Domas meneou a cabeça e disse-me que poderia acompanhar-me num brinde. Assenti prontamente, afirmando que teria gosto em tê-lo como conviva.
– Acompanho-o somente no vinho – objetou o estalajadeiro -, pois minha idade não me permite, depois que o sol se põe, o mesmo que motiva seus versos, nada mais que o jejum – mas logo abriu um largo e hospitaleiro sorriso, declamando versos que me eram familiares, como se quisesse testar-me:
– Ave, color vini clari, ave, sapor sine pari, tua nos inebriari, digneris potentia.3 4
Declamei os versos seguintes, para a surpresa do pousadeiro, e o fiz lisonjeado pela evocação tão apropriada de meu poema mais dionisíaco, que escrevi inspirado pela emoção de ler pela primeira vez o Rubaiyat, do hedonista persa Omar Khayyam, cujo manuscrito fora trazido da longínqua Constantinopla, nomeada Bizâncio pelos antigos, por um misterioso viajante de Málaga, de origem siciliana, a quem chamavam Picazo ou Picasso, ou talvez ainda Picanzo, versos cuja tradução coube a meu mestre, o também siciliano Lucio Marineo Siculo.
Brindei à saúde de Gonçalo de Domas na noite outonal, aquecida pelo vinho proveniente da boa cepa de Valduero, de modo que o estalajadeiro elevou sua caneca à altura dos olhos, com a mesma intensidade com que tinha negado a acolhida momentos antes. O vinho valduriense não só nos inebriaria, senão também nos conciliaria, a nós, dois estranhos, provavelmente rivais em outra época de menos paz, nos confins das terras sagradas de Castela.
Perguntou-me, ainda, o pousadeiro, em tom mais gracioso, se não era eu a própria personificação de Dionísio, que, disfarçado de trovador andrajoso, testava-lhe a hospitalidade. Disse-me, ainda sorrindo, que mudara de opinião sobre mim exatamente por isso, como que a pressagiar que, de seus velhos cântaros de terracota catalã, provenientes da balear Eivissa (Lebessos para os fenícios, Lebisah para os árabes), na Minorca (ilha que Tito Lívio batizara e que estivera sob domínio fenício na Antiguidade, antes da predominância romana), vaso em que guardava algum vinho ordinário das terras férteis da ribeira do Douro, pudesse brotar, regalo dionisíaco, o indescritível e
sublime néctar de Falerno. Deixei que o velho ranzinza se iludisse com essa fantasia, ou que me tentasse iludir, trazida à memória pela libação que nos aquecia e nos irmanava.
– Vinho e amizade aquecem o coração – disse-lhe.
O velho pousadeiro, enquanto eu saciava a fome e a sede andarilhas, deixou-me por um instante e foi preparar o quarto que me acolheria.
Depois da refeição, recuperei minhas forças, sentindo-me cômodo e reconfortado pela bebida. Seguia-me a rabeca, quando cantei para o pousadeiro os versos de uma cantiga de Santa Maria:
Dizei, ó trovadores,
Ao senhor dos senhores,
Por que não louvais?
Se vós trovar sabeis,
Se a Deus haveis,
Por que não louvais?
Ao senhor que dá a vida,
Que esperamos comprida,
Por que não louvais?
Ao que nunca nos mente,
Ao que a nossa dor sente,
Por que não louvais?
A que é mais que boa,
Aquela a que Deus perdoa,
Por que não louvais?
Ao que nos conforte,
Na vida e na morte,
Por que não louvais?
Ao que faz o que morre
Viver, nos socorre,
Por que não louvais?5 6
Conversávamos e bebíamos o bom vinho duriense. O estalajadeiro falava-me sobre como havia chegado àquele lugar. Contendas familiares e a proximidade a um irmão do Conde de Medinaceli, de quem este se tornara rival, fizeram com que Gonçalo de Domas tivesse sido expulso
de suas terras e houvesse sido obrigado a pagar pesados tributos ao Rei Enrique IV, então soberano de Castela e Leão, o que consumira quase toda sua herança e haveres. Tais divergências entre os nobres de Castela e Leão chegaram ao seu ponto crítico nas Cortes de Ocanha, em 1469, precedidas por um breve conflito armado. Gonçalo de Domas perdera quase tudo, provavelmente acusado de conspiração. Com muita dificuldade, adquirira aquelas terras de um barão arruinado, mas estava proibido, por decreto real, de plantar e possuir rebanhos, principalmente os merinos oriundos das terras lusitanas.
– Vossa mercê não tem ascendência damascena, bem se vê, ou a cor de sua pele me ilude? Ou já esteve em Damasco, a milenar Cidade do Jasmin, como denota seu sobrenome Domas? – indaguei-lhe.
– Não, nunca estive, senhor. Em verdade, provenho de Berceo, cidade onde um antepassado meu, cujo nome por mim foi herdado, fez fama e fortuna, versificando e escrevendo sobre a vida dos santos. Tenho origem basca, algo inescondível como a tosse e o amor, mas, desde tempos imemoriais, minha família vem de berço cristão. O hagiógrafo Gonçalo de Berceo, que exerceu seu monastério em San Millán de la Cogolla, escreveu versos imorredouros, alexandrinos perfeitos, sobre os milagres de Santa Maria.
– Vossa mercê sabe algum de coro? – perguntei-lhe.
– Claro que sim, nobre trovador.
– Pois bem, rogo-lhe que os declame, enquanto dedilho as cordas da viola – disse ao pousadeiro.
Gonçalo de Domas, bebendo um demorado gole de vinho, que lhe tornou a voz mais suave, declamou, de seu antepassado hagiógrafo, os Milagres de Nossa Senhora. E, por mais de um par de horas, cantamos e brindamos à honra do mui santo monge navarro.
Gonçalo declamou os versos da Cantiga de Santa Maria na qual a Virgem, na cidade de Saidnaya, terras sírias, próxima a Damasco, fez uma de suas últimas aparições de que se tem notícia7 8.
Foi então que o velho basco me disse:
– Talvez daí venha meu raro sobrenome, nada revelador de minha origem navarra, senão de um certo apreço de meu antepassado hagiógrafo pelo milagre de Santa Maria ocorrido em Damasco. Caro trovador, sei que a noite já quase enlaça mãos com a madrugada, mas este humilde pousadeiro queria escutar, se vossa mercê me conceder mais uma dádiva de sua nobre arte, um romance sobre a reconquista de Granada, pois, tendo cantado e tocado na Casa de Isabel, a católica, o nobre menestrel saberia cantá-lo como ninguém.
Com o alaúde, cantei os versos de Juan del Enzina:
Ó Granada enobrecida, por todo mundo aclamada,
Até aqui foste cativa, e agora já libertada!
Perdeu-te o rei D. Rodrigo, por dita desditosa.
Ganhou-te o rei D. Fernando com ventura prosperada.
A rainha Dona Isabel, a mais temida e amada,
Ela com suas orações, e ele com muita gente armada.
Segundo Deus faz seus feitos, a defesa era escusada,
Pois, onde Ele põe Sua mão, o impossível é quase nada!
Que é de ti, desconsolado?
Que é de ti, rei de Granada?
Que será de tua terra e teus mouros?
Onde tens tua morada?
Renega já a Maomé e sua seita malvada,
Pois viver em tal loucura é burla malograda.
Torna, torna, bom rei, à nossa lei consagrada.
Porque se perdeste o reino, terás tua alma cobrada.
Que é de ti, desconsolado?
Que é de ti, rei de Granada?
De tais reis, vencido, honra deve ser-te dada.9 10
Não se conteve o velho basco e louvou a interpretação daqueles versos. Agradeci-lhe comovidamente. Contava-me como Granada fora conquistada e como o grande Boabdil fugira de Alhambra. Falava sobre as intrigas palacianas, de que se aproveitaram os reis e a nobreza católicos para preparar, durante dez anos, a tomada de Granada dos nasridas. Gonçalo de Domas demonstrava que conhecia bem as escaramuças da Corte e a urdidura da Reconquista. O vinho o deixara sem qualquer inibição, o que lhe permitia narrar sua vida na Corte sem nenhum pejo, malgrado lhe custasse manter-se calmo quando falava dos nobres de Burgos e Leão e quando mencionava a fraqueza política do Rei Enrique IV, o Impotente, que cedeu à sanha de poder dos leoneses Juan de Villamizar e Gonçalo de Villafañe e dos burgueses Antonio Sarmiento e Iñigo Díaz de Arceo. Mas nenhuma amargura do velho basco tinha relevância perto do que nutria pelo então Conde de Medinaceli, que o arruinara e que, dez anos após as Cortes de Ocanha, teria de Isabel, a católica, o título de Duque de
Medinaceli, o qual Gonçalo de Domas dizia desprezar e não reconhecer. Então, para apaziguar o coração do estalajadeiro, cantei, ao som do alaúde, evocando o fim do reinado mouro nas terras da velha Hispânia, o Romance da Perda de Alhama:
Passeava o Rei Mouro pela cidade de Granada,
Da Porta de Elvira até a de Vivarambla.
– Ai de mim, Alhama!
Cartas lhe foram vindas, que Alhambra era tomada.
As cartas, jogou ao fogo e ao mensageiro matara.
– Ai de mim, Alhama!
Descavalga de uma mula e num cavalo cavalga;
pelo Zacatín acima, subindo se foi a Alhambra.
– Ai de mim, Alhama!
Como em Alhambra esteve, ali mesmo mandara
que se tocassem as trombetas, seus anafis de prata.
– Ai de mim, Alhama!
E que as caixas de guerra depressa tocassem o alarma,
Para que o ouvissem seus mouros, os de Vega e Granada.
– Ai de mim, Alhama!
Os mouros que o som ouviram, que ao sangrento Marte chamara,
Um a um e dois a dois, se juntaram à grande batalha.
– Ai de mim, Alhama!
Ali falou um mouro velho, dessa maneira falara:
– Para que nos chamas, Rei? Para que é esta chamada?
– Ai de mim, Alhama!
– Haveis de saber, amigos, uma dita malfadada,
que cristãos de bravura já nos hão tomado Alhama.
– Ai de mim, Alhama!
Ali falou um faquir, de barba crescida e branca:
– Bem se te emprega, Rei. Bom Rei, bem se te empregara.
– Ai de mim, Alhama!
– Mataste os abencerrages, que eram a flor de Granada,
levaste os tornadiços de Córdova, a renomada.
– Ai de mim, Alhama!
– Por isso, mereces, Rei, uma pena mui dobrada:
Que percas o teu reino e aqui se perca Granada.
– Ai de mim, Alhama!11 12
Voltei à viola com versos mais amenos à ocasião, anteriores à Reconquista, nos quais Granada aparece como uma mulher a quem o Rei D. Juan pede em casamento, romance que evoca a figura lendária do poeta mouro Abenámar, de nome nobre Abu Bakr Muhammad Ibn Ammar, amante do Rei-Poeta Al-Mutâmide:
Abenámar, Abenámar, mouro da mouraria,
O dia em que nasceste, grandes sinais havia,
Estava o mar em calma, a lua estava crescida,
Mouro que em tal signo nasce não deve dizer mentira.
Ali respondera o mouro, bem ouvireis o que dizia:
Direi verdade, senhor, ainda que me custe a vida,
Porque sou filho de mouro e de uma cristã cativa;
Sendo eu menino e rapaz, minha mãe me dizia
Que mentira não dissesse, que era grande vilania;
Portanto, pergunte, Rei, que a verdade lhe diria.
Te agradeço, Abenámar, essa tua cortesia.
Que castelos são aqueles? Altos são e reluziam!
O Alhambra era, senhor. E o outro, a Mesquita,
Os outros, os Alixares, lavrados à maravilha.
O mouro que os lavrava, cem dobras ganhava ao dia.
No dia em que não os lavrava, outras tantas ele perdia.
O outro, o Generalife, horta que par não teria.
O outro, Torres Bermejas, castelo de grande valia.
Ali falou o Rei D. Juan, bem ouvireis o que dizia:
Se tu quisesses, Granada, contigo me casaria;
Te darei, em arras e dote, as lindas Córdova e Sevilha.
Casada sou, rei D. Juan, jamais me entregaria,
O mouro que me tem a mim, mui grande bem me queria.13 14
Gonçalo de Domas, conferindo um tom mais solene à voz, cada vez mais frouxa e abrandada pelo vinho, iniciou o que chamou “uma história interessante”, contada pela primeira vez em sua família por seu ancestral hagiógrafo:
– Um viajante que descansou nessas paragens, há, pelo menos, três centúrias, contou ao grande Gonçalo de Berceo que um rei insano, odiado por seu povo, matara a um pastor, por ser este muito querido em sua aldeia. O rei, enciumado, mandara cortar a cabeça do aldeão e enviara o filho deste a um mosteiro. O menino cresceu e voltou à vila, onde, já homem-feito, passou a viver tocando flauta e viola. Havia aprendido a arte da música com os monges que o educaram. A filha do rei apaixonou-se pelo jovem (ela também amava muito a música, que os aproximara), o que despertou a fúria do monarca. O rei prendeu o trovador numa fortaleza, da qual jamais alguém escapara. A filha do rei morreu de coração partido, semelhante ao que ocorrera aos Amantes de Teruel, Juan Martínez de Marcilla e Isabel de Segura, pois o monarca jamais permitiu que a princesa tornasse a ver o trovador. Por haver perdido a única filha, a joia que mais amava, o rei decidiu que o prisioneiro não seria executado, mas dele seria tomado o que lhe era mais valioso. Ao dar liberdade a um companheiro de prisão do trovador, o rei comprou-lhe um segredo: “É a música, Majestade, aquilo que restou ao trovador, aquilo que ele mais ama!”
O estalajadeiro prosseguiu, depois de um longo trago de vinho:
– O rei mandou que os festejos do reino fossem deslocados para o palácio mais distante. Nas aldeias, a música foi proibida. E não havia dor maior para o menestrel. Os aldeões que assobiavam ou cantarolavam eram presos e cumpriam penas cruéis. A música só era executada num distante palácio, nos confins do reino, presenciada apenas pela família real e por suseranos e vassalos. Mesmo segregado, o trovador ainda versejava, ainda perseguia algo que lhe restituísse a vontade de viver. Soube o rei que o trovador se alegrava, unicamente, com as aves canoras que se acercavam das grades da pequena janela do cárcere e assobiava para elas, às quais regalava migalhas de pão. O rei mandou construir uma enorme rede em volta da torre na qual mantinha menestrel encarcerado. Os pássaros se afastaram ou foram capturados e mortos. Mesmo assim, o trovador ainda encontrava alguma pequena alegria, cantando, pois o rei ainda não lhe havia arrancado, completamente, a música. Um dos carcereiros disse ao rei que havia visto o trovador a cantar e tocar uma viola imaginária. O rei mandou fechar a janela da torre com pedras, ordenou que cortassem a língua do trovador e lhe furassem os tímpanos. Sem poder cantar nem ouvir bem, só lhe restaria o silêncio da morte.
Determinou, também, que ninguém poderia jamais cantar naquele reino, enquanto o prisioneiro estivesse vivo, sob pena de morte na forca ou em garrote vil. Decretou guerra aos pássaros do reino e reuniu um pequeno exército para exterminá-los. “Vivemos no Reino do Silêncio!”, diziam os aldeões.
Gonçalo de Domas, elevando o cântaro acima de minha caneca, despejou nela o vinho navarro, que, vibrante e violáceo, descia espumoso como os regatos que despencavam do alto do Urbião, e continuou sua narrativa:
– Tempos depois, outro carcereiro disse, com certa compaixão, que, no silêncio da noite, o coração do trovador batia tão forte, que se assemelhava a um tambor, a marcar a passagem do tempo com pancadas sonoras e ritmadas. O rei não teve dúvida: ordenou que lhe arrancassem o coração e o jogassem às feras. Assim fez o carrasco, apesar de entender que o que executava era uma injustiça: levou o prisioneiro para o lugar mais distante do reino e lhe arrancou o coração. Porém, o coração continuou a bater, forte e compassadamente, com as mesmas pancadas sonoras e ritmadas de antes. O verdugo, mesmo assombrado, levou o coração para ser atirado às feras. Nesse instante, lhe apareceu um pássaro canoro, que lhe falou: “Não atires o coração às feras! Não vês? Ele pulsa, está vivo!” Espantado, o algoz, as mãos trêmulas, lhe respondeu: “Jamais quis atirá-lo às feras. Nem mesmo quis matar o trovador. Fui obrigado por meu senhor a fazê-lo”. O pássaro pediu que escutasse atentamente algo que lhe deveria contar: “O coração que tens nas mãos deverá ser deixado no caule do mais antigo carvalho, na mais alta montanha do reino. A cada sopro do alísio, ressoará das entranhas do coração as primeiras melodias do homem, inundando de música todo o reino. Vejo remorso em teu coração. Estou certo de que teu arrependimento é sincero, mas terás de peregrinar pelo mundo, durante toda tua vida, aprendendo e ensinado tudo que puderes da Arte da Música. Não terás nem pátria, nem posses, mas apenas teus instrumentos musicais, nos quais se transformarão todos os instrumentos de tortura, suplício e morte que antes utilizavas. Apressa-te! Mas antes quero contar-te algo que jamais contei a alguém. Quando o criador fez o primeiro homem, esculpiu-o com a argila das margens do Rio da Criação. Moldou-lhe o corpo como o seu próprio corpo. Mas aquela figura inanimada necessitava de um sopro de vida para caminhar sobre a Terra. E o criador soprou na concavidade do punho semicerrado de sua mão esquerda, produzindo um som melodioso, jamais ouvido. Fechou totalmente a mão e aprisionou o sopro de ar no peito da criatura de argila. Depois, abriu e fechou a mão algumas vezes, como o bater de asas de um pássaro, e a afastou daquele corpo ainda sem vida, instante em que um pequeno tambor passou a bater compassadamente no peito da criatura. O criador deu-lhe o nome de Homem, porque nascido do húmus, da terra fértil; a Música, sua alma, ressoaria no coração durante toda a vida. Quando, um dia, o coração parasse, a alma deixaria o corpo e se aninharia no tronco desse carvalho primevo, à espera de outro sopro divino”. O pássaro, antes de alçar voo, disse-lhe ainda: “Vai, o tempo urge. Após a aurora, este reino não mais poderá estar imerso no silêncio. Apressa-te!”
E Gonçalo de Domas continuou, tomando mais uma caneca de vinho, que sorvia com mais ímpeto, enquanto contava a história lendária, não sem notar minha incredulidade estampada no rosto, ante uma fábula a cujo enredo parecia impor distorções, com intuito de aproximá-la de outras já conhecidas:
– O carrasco deixou o coração no lugar indicado, que se incorporou ao velho carvalho. A música invadiu o reino: rompeu-se o silêncio. À sombra da árvore repousavam uma rabeca, uma flauta e uma viola. O verdugo colocou-as em sua sacola e retirou-se, peregrinando de reino em reino, de aldeia em aldeia, de caminho em caminho, pelo resto da vida. Em seus últimos anos, vida que lhe foi muito longa, tocou seus instrumentos no califado da Córdova de Al-Andalus, inclusive para o próprio califa almóada Abu Yaqub Yússuf, que, em gratidão, lhe presenteou um alaúde. Um dos calígrafos do monarca muçulmano escreveu essa história, ditada provavelmente por Averróis e perdida para sempre. Algumas músicas tocadas pelo menestrel chegaram até os nossos dias pelas cantigas recolhidas por Afonso X, o sábio, de Castela e Leão, como a cantiga de Santa Maria que reverencia o perdão.
E cantei com ele a cantiga evocada, o alaúde como companhia:
Se um homem fizer de grado pela Virgem algum bem
Demonstrar haverá ela sinais de que lhe prazem
Disso vos direi milagre, onde houverdes sabor
Que mostrou Santa Maria com mercê e com amor
A um mui bom cavaleiro, seu querido servidor
Que em servi-la pusera seu coração e seu bem
Se um homem fizer de grado pela Virgem algum bem…
E havia um seu filho a quem sabia mais amar
Assim, matou-o um cavaleiro. E com pesar
Do filho, foi ele prendê-lo e quisera-o matar
Que um ao seu filho matara, por não lhe valer vintém
Se um homem fizer de grado pela Virgem algum bem…
E ele, ao levá-lo preso, numa igreja entrou
E logo entrou o preso e do rival não se lembrou
E, após ver da Virgem a imagem, o cavaleiro o soltou
Curvou-se ante a imagem e deu-lhe graças. Amém…
Se um homem fizer de grado pela Virgem algum bem…”15 16
O pousadeiro contou, ainda, que o rei Afonso, o sábio, ainda jovem, conheceu-o pessoalmente, quando o menestrel cantava na Corte e nas aldeias de seu povo, já no fim da vida. Uma das cantigas inspirou o rei a dedicar a vida a recolhê-las. Narrava a história de uma estalagem em que havia a imagem de Santa Maria numa távola, que, milagrosamente, se materializava na santa, o que ocorreu não só uma, mas inúmeras vezes. O rei perguntou ao menestrel onde havia ocorrido o milagre. O trovador disse não conhecer a pousada, justo porque nunca a estalajadeira se gabara das aparições. Talvez por essa razão, a história foi difundida por viajantes, sem que nunca mencionassem o lugar da revelação. De fato, ignoravam-no. Até podiam tê-lo inventado, o tal lugar, mas nunca o fizeram. O rei vestiu-se de viajante e foi procurar a estalagem em seu reino e em outros vizinhos. Numa noite de céu claro, encontrou, na subida de um monte, uma pousada. Muito cansado, bateu à porta. Uma velha o acolheu, deu-lhe um quarto, um prato de sopa, alguns pedaços de pão e uma caneca de vinho. O rei agradeceu-lhe a hospitalidade e lhe indagou se conhecia a estalagem em que havia, numa távola, a imagem de Nossa Senhora. A velha respondeu-lhe que ali, naquela estalagem, havia a távola a que o rei se referia. O rei pediu-lhe permissão para ver a imagem. Num quarto muito escuro, cerrado por uma porta larga, havia uma mesa de tampo de carvalho enegrecido. A velha acendeu um lampião. Ali, bem no centro da mesa, uma imagem de Santa Maria emergia dos nós cortados do caule do roble. O rei ficou muito impressionado, ajoelhou-se e rezou. Pediu que Nossa Senhora lhe concedesse a graça da aparição. A velha contemplava-o com placidez. O rei Afonso chorou, curvou-se durante horas ante a imagem de Santa Maria, mas esta não se revelou. O sábio monarca, resignado, tomou o caminho de volta para o seu reino e passou o resto da vida colhendo as cantigas em homenagem a Santa Maria.
Gonçalo de Domas acrescentou, com secura na voz e pigarreando (mais de um cântaro de vinho já se lhe tinha ido pela garganta), que reis não podem ser santos e que estes só aparecem às pessoas comuns, aos pastores e pastoras, aos aldeões e aldeãs, aos pescadores, aos homens e mulheres pobres.
Incrédulo, contestei:
– Impossível! Mas é, praticamente, a mesma história da Cantiga de Santa Maria colhida pelo próprio rei Afonso, apreciada pelo monge Gonçalo de Berceo, da qual, como vossa mercê mesmo acentuou, provavelmente se origina seu apelido incomum. Como é possível?
– Retire dessa história suas próprias conclusões, trovador – disse o pousadeiro, sorrindo
em sua visível ebriez.
Era tarde, o cansaço já me invadia o corpo. A sensação de conforto transformava-se em sono. Desculpei-me com o pousadeiro, iria recolher-me. Antes, assenti em que sua história era mesmo muito interessante, que iria guardá-la com carinho na memória e que me serviria de inspiração por esses infindáveis caminhos solitários de Castela. Agradeci-lhe a hospitalidade, e, antes que eu me retirasse ao aposento que me havia reservado e no qual o estalajadeiro já dizia estar acesa a brasa na fornalha, que me aqueceria a madrugada, Gonçalo de Domas disse-me, com ar fatigado, que a noite lhe havia sido muito prazerosa. Desejou-me boa viagem e recomendou-me cuidado nas tortuosas veredas do Urbião, pois Don Beldur, o sulfuroso, carregara consigo muitas almas naquelas paragens, entre as duas águas boas. Era como se referia ao diabo e ao Urbião, em seu idioma basco, para logo acrescentar:
– A montanha engana não só os sentidos, caro trovador – disse antes de recolher-se.
Disse-me que ficou encantado com minha voz, virtuosidade e versos, mas, a bem da verdade, não acreditava que eu fosse quem dizia ser. Por essa razão, não me perguntara como minha vida nos salões da Corte se transformara na de um miserável peregrino, um trovador arruinado, andrajoso e pedinchão. Mas ressaltou:
– Caro menestrel, minha condição humilde não pode exigir a visita de gente palaciana, todavia nunca tive uma companhia tão prazerosa nesse friorento outono, de sorte que o seu passado em nada me interessa. O que me importa é ter escutado a musicalidade de seus versos e o aveludado de sua voz, que me parece lhe ter chegado por dádiva divina. Louvo seu canto, louvo seus versos, Juan Ponce! Louvo sua alma benfazeja, caro trovador! Acreditemos em nossas histórias! É o que nos resta: contá-las até esperar a chegada das trevas da noite, a incerteza da madrugada ou a luz da aurora.
Levantando a caneca pela última vez, ainda mais alta que sua calva, brindou em favor de um bom sono e de minha caminhada pelas veredas do Urbião. E se foi para os aposentos num andar entre tateante e trôpego, com o castiçal na mão, no qual um toco de vela já dava sinais de última chama.
***
Aos primeiros raios do alvorecer, continuei minha caminhada em direção ao topo do monte. O clima amenizara, o vento amainara suas forças e o frio não mais me enrijecia os músculos. Caminhei por horas, embalado pelas cantigas entoadas na noite anterior, acompanhadas pela roçar do vento nas folhas que revoavam de álamos, salgueiros, choupos, olmos e pinheiros silvestres. Ouviam-se os cantos de tordos, pintassilgos e carriças, bem como o marulhar dos regatos que desciam ligeiro o Urbião e que formariam o Douro em sua longa caminhada até o mar lusitano.
Pensei em como pude ser feliz ao longo desses anos de viajante; em como pude olhar o
mundo de forma diferente. O fato de não estar subjugado a nenhum senhor dera-me a liberdade de buscar a felicidade dia após dia. Os lábios dos quais haveria de manar a música até o fim de minha existência testemunhavam-no. Se não fui feliz, o destino enganou-me e burlava de mim.
Ao apertar o passo, subindo por uma encosta íngreme e pedregosa, encontrei uma ermida construída nas cercanias de uma caverna, na qual poderia ter vivido San Millán, o asceta, que distribuiu os bens de sua igreja entre os pobres e morreu centenário no último quarto do século VI. Uma cascata brotava entre as gretas de um bloco granítico que lembrava as escadas de um palácio ou de um templo. Um veio vaporoso despencava em duas quedas num improvável zigue-zague. Subi, ao largo da cachoeira, por um caminho de seixos. O teixo milenar que buscava haveria de estar logo acima, no pico mais alto do Urbião. Escalei as gretas íngremes, galgando pedra por pedra, até um altiplano revestido por espesso prado, que circundava a Lagoa Negra, a cujas margens, imponente e solitário, um teixo negro, de dois milênios, pelo menos, pendia sua frondosa ramagem.
A história contada por Gonçalo de Domas era verossimilhante, à exceção de um único fato: o manuscrito de Averróis não se perdera; haveria de estar ali, bem à minha frente. O teixo media cerca de trinta metros. Com algum esforço, oito, ou talvez nove homens, não menos, poderiam abraçar-lhe o caule completamente. Descansei à sua sombra. Retirei a flauta do surrão e toquei as melodias mais belas que conhecia. Os frutos venenosos do teixo pendiam naquele início de outono. Um a um, começaram a cair. Os tordos se calaram, os regatos cessaram o marulhar, as folhas das faias sopitaram o contínuo ciciar, o vento dissipou o assovio frugal, e não se ouvia mais nenhum farfalhar das copas das árvores. Depois dos últimos acordes, fez-se silêncio. Tateei, no tronco da conífera, entre os nós retorcidos, uma fenda que se abrira. Com as pontas dos dedos, retirei um papel rude, provavelmente da primeira fábrica árabe de meados do século XII, feito de cânhamos de Samarcanda. Inexplicavelmente, o papel se havia conservado. Abri-o com cuidado e examinei cada linha do manuscrito. Aprendi a língua e cultura árabes e acreditava que, indubitavelmente, todos os signos do texto dos copistas de Averróis poderiam ser interpretados. Uma clave, porém, se me apresentava incompreensível, razão por que malograva na decifração.
Tudo da história resumida por Gonçalo de Domas estava ali, descrita com apurado lirismo. A lenda ganhava cores fortes e cromatismos musicais, à medida que se narrava todo o martírio do trovador e a redenção de seu algoz, assim como a melodia que quebrara o silêncio do reino: uma música primigênia, jamais tocada, que dera ao verdugo a imortalidade da alma, ou a aptidão para tanto, algo que o velho basco desconhecia. Tornei a dedilhar as cordas da viola, na tentativa de tocar a melodia primigênia. A cifra ininteligível lembrava o serpentear da cascata ao largo da qual subi os últimos rochedos até o cimo do Urbião. Durante horas, sentado à sombra do teixo, tentei debalde encontrar o significado daquele símbolo. Por um momento, imaginei que talvez fosse a nota de uma melodia celtibérica, que se perdera e que eu ignorava, transcrita pelos calígrafos de Córdova, mas sem qualquer transliteração. O sol viajou todo o arco da abóbada celeste num piscar de olhos. As
horas haviam-me escapado como a réstia de lembranças da primeira infância. O silêncio da montanha invadiu a cratera onde se adensara há milênios a Lagoa Negra. Era inútil alcançar a decifração: a quietude trouxe a ilusão de um mundo sem tempo, sem luz, sem frio nem calor, sem lembranças. O ocaso deu lugar à noite e miríades de estrelas já cintilavam no céu. O torpor não me incomodava. A alma gozava um estado indefinível. Os frutos vermelhos do teixo se dissolveram numa torrente, que me carregou o corpo para o fundo da lagoa. Mas já não havia lagoa, senão a imensa cratera de um vulcão extinto, que precipitava minha queda para as entranhas da Terra. Uma força telúrica, amalgamada ao torpor, rodopiava-me entre as raízes do teixo, cada vez mais fundo, mais e mais e mais. Vi árvores silvestres despencando para o nada, riachos, pássaros precipitando-se para o centro da Terra. A pedra em que fora talhada o número da estalagem rolava entre os pedregulhos e seixos das cascatas; uma lua em quarto crescente, uma estrela cadente, os surrões atados pelas cordas da viola, o corpo de Gonçalo de Domas e sua imensa calva, tudo declinava, absorvido por uma força inumana. As raízes se transformaram em arabescos, e estes, em abafadas notas musicais, plasmadas, que saltavam do papel de Samarcanda, como os sons de cetáceos ouvidos no fundo do oceano, ou o canto das sereias, relatado pelos náufragos que sobreviveram no barco de Odisseu. Por fim, a melodia cessou por completo e meu corpo viveu a plenitude do silêncio.
***
“…Acordei com o roçar das chaves nas grades de ferro e a tonitruante voz do carcereiro. Abriram a cela e me trouxeram a flauta, a viola, a rabeca e o alaúde. Toquei pela última vez. O carcereiro olhou-me compassivamente. Enquanto tocava, um pássaro canoro veio às grades da janela. Ofereci-lhe as migalhas de pão que sempre guardo da ceia anterior. A pequenina carriça, diferentemente do canto vivaz e nervoso com que me sobressalta de vez em quando, respondeu-me com um trinar doce, como a despedir-se de mim. Mantive meu silêncio, como me fora imposto, mas tenho certeza de que ela sabia que, com minha quietude, estava a me despedir dela.
Confiscaram-me as terras, quase todos os haveres, prenderam-me e, em poucos minutos, me arrancarão a vida na corda de uma forca. Um outro desejo me foi concedido: escrever-lhe esta última carta.
Nada lhe poderei deixar, além desses instrumentos e dos arabescos dessa história pouco comum e sem desenlace: uma melodia inefável que jamais comporei. Deixe esta carta entre as fendas do teixo milenar, às margens da Lagoa Negra, no Urbião. Leve consigo a rabeca, a flauta, a viola e o alaúde. Alguém, um dia, encontrará essas linhas nesse rude papel de Samarcanda. Quiçá tente buscar essa melodia perdida, se é que ela existe. Quem sabe alcance sua decifração. Oxalá ao menos se interesse por minha história.
Pouco tempo me resta. Um padre veio rezar em favor de minh’alma, plena de inquietudes.
Rogou a Santa Maria que me guardasse e que Deus tivesse piedade de mim. Amen.
Morrerei no equinócio de 1521, a não ser que Sua Majestade me conceda clemência, em atenção ao meu último apelo à Corte.
Apesar do tom fatídico de minha carta, faz um belo dia.
Adeus, Juan Ponce. Ou deveria escrever ‘até logo’?
Com essa história, deixo a vossa mercê o melhor de meus versos:
Longe se ponha o sol…”