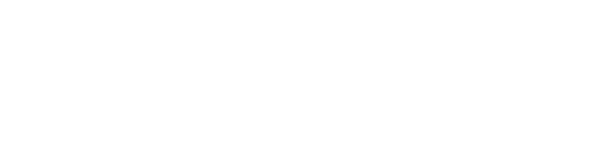Por Rogério Tadeu Romano*
I – O FATO
Segundo o GZH GERAL , em 20.2.23, o Ministério Público (MP) de São Paulo informou nesta segunda-feira, 20, que investigará a responsabilidade das autoridades do litoral norte de São Paulo pela “potencialização dos efeitos das precipitações pluviométricas, mediante a falta de iniciativas na remoção de moradores de áreas de risco”. Entre a noite de sábado, 18, e a manhã de domingo, 19, fortes temporais atingiram a região, causando inundações e deslizamentos de terra.
Ao menos 40 pessoas morreram vítimas das fortes chuvas. Até o início da tarde desta segunda-feira, 1.730 pessoas estavam desalojadas e 766, desabrigadas. Na manhã do domingo, o governador Tarcísio de Freitas informou que havia 40 desaparecidos. Foram atingidos os municípios de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga.
O orçamento do governo federal neste ano para prevenção e recuperação de desastres é o menor dos últimos 14 anos: R$ 1,17 bilhão. Esse dinheiro é usado para evitar tragédias como a do litoral norte de São Paulo, onde as fortes chuvas deixaram ao menos 40 mortos e seis cidades em calamidade, consoante informou o Estadão, em 21.2.23.
Os valores reservados para a gestão de riscos e desastres vêm caindo nos últimos anos. Em 2013, a cifra chegou a R$ 11,5 bilhões, atualizados pela inflação. Uma cifra dez vezes maior do que a disponível para este ano, segundo levantamento feito pela ONG Contas Abertas. Em 2010, início da série histórica, eram R$ 9,4 bilhões.
“Todo ano sabemos que esse problema vai acontecer, sabemos a época que vai acontecer e até mesmo os locais onde isso vai acontecer, mas acaba se repetindo”, afirma o economista Gil Castello Branco, do Contas Abertas. “Esse filme nós conhecemos bem. Após as tragédias, as autoridades sobrevoam as áreas atingidas e prometem recursos emergenciais, mas no ano seguinte os fatos voltam a se repetir.”
Ficam as lições para cada uma dessas tragédias.
Faltam recursos, projetos, programas todos direcionados para o combate a essas enchentes.
É de vital importância investimentos em infraestrutura, drenagem e contenção, habitação social e preservação ambiental.
Diante dessa omissão deve ser investigada a atuação do setor público.
Segundo o site Poder 360, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta 2ª feira (20.fev.2023) que há possibilidade que alguns pontos da rodovia Rio-Santos, no litoral norte do Estado, tenham deixado de existir. Segundo o governador, ainda não é possível dimensionar o tamanho dos estragos em alguns pontos da rodovia. “A gente contabilizou mais de 10 pontos de bloqueio [na Rio-Santos], alguns de grande extensão, e em alguns pontos a gente não sabe o que sobrou da rodovia. Porque é um volume de terra tão grande que se deslocou e numa extensão tão grande …….
isso é uma tragédia gravíssima que se soma a possibilidade de doenças por conta do temporal.
II – OS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO
É certo que o Estado não pode ser diretamente responsabilizado pela ocorrência de fortes chuvas. Contudo, a sua responsabilidade consistente a omissão administrativa na realização das obras necessárias à prevenção e precaução, diminuição ou atenuação dos efeitos decorrentes das enchentes de águas pluviais, ainda que verificadas fortes e contínuas chuvas não pode ser descartada.
Como advertiu Clarissa Ferreira Jardim (Responsabilidade Civil do Estado diante das catástrofes naturais, in Direito & Justiça, v. 36, n. 1, p. 61-82, jan./jun. 2010) tal situação caracteriza a força maior, capaz de romper o nexo de causalidade entre a conduta da Administração e os danos sofridos pelo autor e excluir a responsabilidade do município.
Mesmo diante de um fato da natureza é mister que a Administração, sob pena de omissão, utilize-se dos princípios da prevenção e da precaução para enfrentar os riscos que poderão advir diante de enchentes que venham a ocorrer diante da necessária obrigatoriedade da ação estatal.
O Princípio da obrigatoriedade da ação estatal ensina que o Estado deve prevenir, por todos os meios possíveis, as ameaças à vida, à saúde e o patrimônio de sua população.
O objetivo do Princípio da Prevenção é o de impedir que ocorram danos à população concretizando-se, portanto, pela adoção de cautelas, antes da efetiva execução de atividades potencialmente produtoras de danos.
O Princípio da Precaução, por seu turno, possui âmbito de aplicação diverso, embora o objetivo seja idêntico ao do Princípio da Prevenção, qual seja, antecipar-se à ocorrência das agressões à vida, à saúde, a integridade patrimonial da população..
Enquanto o Princípio da Prevenção impõe medidas acautelatórias para aquelas atividades cujos riscos são conhecidos e previsíveis, o Princípio da Precaução encontra terreno fértil nas hipóteses em que os riscos são desconhecidos e imprevisíveis, impondo à Administração Pública um comportamento muito mais restritivo quanto às atribuições de fiscalização e de licenciamento das atividades potencialmente danosas à saúde.
III – A QUESTÃO DA FORÇA MAIOR
A exclusão da responsabilidade por força maior somente se admite nas ocorrências naturais, imprevistas e imprevisíveis.
Consoante lição de Lúcia Valle de Figueiredo não se pode “cogitar da existência de força maior quando, por exemplo, ocorram inundações na cidade, previsíveis e que demandariam obras de infraestrutura não realizadas” (Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 9ª edição, 2008, pág. 302).
Dir-se-á que essas enxurradas nas cidades ocorridas em épocas de verão, geralmente nas regiões do Brasil que podem caracterizar caso fortuito ou força maior.
Como advertiu Clarissa Ferreira Jardim (Responsabilidade Civil do Estado diante das catástrofes naturais, in Direito & Justiça v. 36, n. 1, p. 61-82, jan./jun. 2010) tal situação caracteriza a força maior, capaz de romper o nexo de causalidade entre a conduta da Administração e os danos sofridos pelo autor e excluir a responsabilidade do município.
No ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira (Instituições de direito civil, volume II, 1976, pág. 299), costuma-se dizer que o caso fortuito é o acontecimento natural, ou o evento derivado da força na natureza, ou o fato das coisas, como o raio do céu, a inundação, o terremoto. Por sua vez, conceitua-se a força maior como o damnu fatale originado do fato de outrem, como a invasão de território, a guerra ou a revolução, o ato emanado da autoridade, chamado de factum principis, a desapropriação, o furto etc.
Por sua vez, Roberto de Ruggiero (Instituições de direito civil, volume III, 3ª edição, tradução Dr. Ary dos Santos, pág. 99), aduziu que “quando a imputabilidade cessa, por não ser o fato danoso dependente da vontade do agente, estamos em frente do que se chama o caso fortuito e, por consequência, da exoneração de qualquer responsabilidade. É, pois, “caso”(fortuito) qualquer evento não imputável, isto é, qualquer fato independente da vontade humana e mais precisamente – quando o caso se considera em relação com o não cumprimento da obrigação – qualquer fato que a torne impossível sem culpa do obrigado”. Esse o pensamento trazido na doutrina: Exner, Gert, Biermann, Baron, dentre outros, na Alemanha, e na Itália com Coviello, De Medio (Caso fortito e forza maggiore in dir. romano), dentre outros.
Assim como no artigo 1058 do Código Civil de 1916 e o artigo 393 do Código Civil de 2002, houve-se por bem reunir como uma causa idêntica de exoneração do devedor e a resolução absoluta da obrigação.
Ainda Caio Mário da Silva Pereira (obra citada, pág. 300) conceituou-os em conjunto como o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, conceito que se ajusta à noção doutrinária abrangente de todo evento não imputável, que obsta no cumprimento da obrigação, sem culpa do devedor, como revelou Aurelio Candian (Nuovo digesto italiano, Caso fortuito). A doutrina, por outro lado, sustentou que o legislador filiou-se ao conceito objetivista. São esses os requisitos genéricos para tal: a) necessariedade, pois não e qualquer acontecimento grave e ponderável, bastante para liberar o devedor, porém aquele que impossibilita o cumprimento da obrigação. Se o devedor não pode prestar por uma razão pessoal, ainda que relevante, nem por isso fica exonerado, de vez que estava adstrito ao cumprimento e tinha de tudo prever e a tudo prover, para realizar a prestação. Se esta se dificulta ou se torna expressamente onerosa, não há força maior ou caso fortuito; b) inevitabilidade, que requer ainda que não haja meios de evitar ou de impedir os seus efeitos, e estes interfiram com a execução do obrigado.
Na lição de Arnoldo Medeiros da Fonseca (Caso fortuito e teoria da imprevisão, ns. 69 e seguintes), às vezes, a imprevisibilidade determina a inevitabilidade, e, então, compõe a etiologia desta.
De toda sorte, trata-se de um conceito meramente negativo, pois que como ele exprime apenas uma negação da culpa, se afirma que o campo próprio do caso fortuito começa onde a culpa acaba. Mas isso, como explicou Ruggiero, é também a única coisa possível e adequada, visto que uma determinação positiva do caso supõe que o evento tenha caracteres intrínsecos e objetivos, reconhecíveis e absolutos, quando um tal evento pode considerar-se fortuito com respeito a uma dada relação jurídica e não fortuito com relação a outra. Quando, na verdade, se recorre, para determinação positiva do conceito, à ideia da imprevisibilidade e da inevitabilidade do evento, não se enuncia uma qualidade intrínseca e objetiva do mesmo; a imprevisibilidade e a inevitabilidade são em si essencialmente relativas e apenas se podem avaliar quando se considerem em face de dada relação, do dever da previsão que nela tinha o obrigado, da possibilidade que este tinha de evitar a eventualidade. Disse ainda Ruggiero que há caso fortuito, quando, em dada relação concreta, cessa a necessidade da previsão e a obrigação de um cuidado especial para o evitar, donde resulta que a sua determinação apenas pode ser negativa.
E concluiu Ruggiero (obra citada, pág. 161):
“Ora, porque no caso fortuito (como na força maior) não há imputabilidade, o devedor que não cumpre a obrigação por ter sido causa de não cumprimento o caso fortuito, fica desde logo liberto. Dispõe, finalmente, o art. 1.226 do Código Italiano de 1865: “O devedor não é obrigado a qualquer indenização por danos, quando por virtude de uma força maior ou de um caso fortuito foi impedido de dar ou de fazer aquilo a que se obrigou, ou fez aquilo que lhe era proibido”(ver art. 1218 do Código Civil Italiano de 1942). A obrigação também se dissolve e o devedor se liberta todas as vezes que uma causa estranha o impediu de prestar, ou porque a coisa devida se destruiu ou deixou de ser comerciável, ou porque a pessoa do devedor não pode já dispender a atividade necessária para produzir o resultado esperado, ou porque já não está na sua mão aquela omissão que constituía o interesse do credor etc, mas deve tratar-se de não cumprimento absoluto, que origine uma impossibilidade objetiva de prestar; uma impossibilidade meramente relativa e subjetiva, uma simples dificuldade, posto que grave, de prestar e que seja particular do devedor, não poderia nem liberá-lo, nem exonera-lo da responsabilidade pelos danos, em virtude do princípio fundamental, que exige que a todo custo se cumpra a obrigação e se satisfaça o interesse do credor”.
IV – A RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR OMISSÃO
Especificamente no REsp 1.701.957 – SP. O tema foi tratado sendo o relator o ministro Hérman Benjamim.
Ali se entendeu que houve postura imprudente da parte do Município envolvido.
Em outro caso, em grau de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo, na APL 005761 – 11.20212.8.26.0125 entendeu, em caso em que houve a ocorrência de chuvas acima dos padrões normais, que tal situação caracterizou a força maior, capaz de romper o nexo de causalidade entre a conduta da Administração e os danos sofridos pelo autor e excluir a responsabilidade do município.
De toda sorte, quando houver ameaça de danos sérios e irreversíveis de degradação ambiental, a Administração tem o dever de agir, de se precaver, sob pena de ter que responder pelos danos injustos causados aos lesados, desde que admitidas suas devidas excludentes.
Celso Antônio Bandeira de Mello (“Curso de Direito Administrativo”, 17ª edição, Malheiros, São Paulo, 2003, p. 893 e ss.), no tocante à responsabilização do Estado, exige-se o discrímen de três situações diversas: (a) casos em que o próprio comportamento, a conduta positiva do Estado é que gera o dano; (b) casos em que a lesão origina-se de uma omissão do Estado, causando um dano que tinha o dever de evitar que é a hipótese da “falta do serviço”, nas modalidades em que (b.1.) o serviço não funcionou, (b.2.) o serviço funcionou tardiamente, ou (b.3.) o serviço funcionou de modo incapaz de evitar a lesão; e (c) casos em que a atividade do Estado cria a situação propiciatória do dano, porque expôs alguém a risco (seu comportamento ativo entra como causa mediata do dano).
Em termos de omissão da Administração não se aplica a teoria do risco. É caso de comprovação de culpa não se admitindo a teoria do risco integral.
Na teoria do risco integral, o prejuízo sofrido pelo particular é consequência do funcionamento, seja regular ou irregular, do serviço público.
Mas visando atenuar a amplitude da responsabilidade objetiva constitucional, Hely Lopes Meirelles acena com uma discriminação do conceito de risco, mas que recebe a oposição de autores como Alcino Falcão (Responsabilidade patrimonial das pessoas jurídicas de direito público, RDP 11:45). Para Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo brasileiro, São Paulo, 1978) , a teoria do risco integral faz surgir a obrigação de indenizar os danos, do ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração, não se exigindo qualquer falta do serviço público, nem culpa dos seus agentes; basta a lesão, sem o concurso do lesado; baseia-se esta teoria no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar danos a certos membros da comunidade impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais. Entendia Hely Lopes Meirelles que a teoria do risco administrativo não se confunde com a teoria do risco integral: “Nesta a Administração ficaria obrigada a indenizar todo e qualquer dano suportado por terceiros, ainda que resulte de culpa ou dolo da vítima”; no risco administrativo embora se dispense a prova da culpa da Administração, permite-se que o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a indenização.
Mostra, logo após, que a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da Administração, permite que o Poder Público demonstre a culpa da vítima, para excluir e atenuar a indenização, o que não aconteceria no caso de risco integral, modalidade extremada do risco administrativo, e segundo o qual a Administração fica obrigada a indenizar todo e qualquer dano suportado por terceiros, ainda que resultante de culpa ou dolo da vítima. Ora, como observam Mário Marzagão e Otávio de Bastos (Responsabilidade pública, 1956), essa teoria jamais foi acolhida em toda a sua intensidade.
A teoria do risco administrativo foi adotada pela doutrina, sendo reconhecida como a que mais se mostra adequada à compreensão da responsabilidade civil do Estado, acrescentando-se que, na legislação brasileira, a Administração Pública pode ser responsabilizada na forma do risco integral apenas quando praticar dano ambiental, na forma do artigo 14 da Lei 6.938/81, e artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, ou dano nuclear, nos termos do artigo 21, XIII, alínea “ d”, da Constituição Federal.
Aliás, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estava em consonância com a doutrina majoritária, entendendo que a teoria adotada por nosso ordenamento jurídico, como regra, foi a do risco administrativo, a qual, conforme já dito, admite que o Estado demonstre, em sua defesa, a presença de causa excludente da responsabilidade ( AgR no AI 577.908/GO, AgR no Ai 636.814/DF).
Entendo, data vênia, no entanto, que em havendo omissão do Estado não há que falar na teoria objetiva. O caso é de comprovação ou não de culpa, sendo caso de aplicação da teoria subjetiva.
Sérgio Cavalieri Filho (Programa de responsabilidade civil, 9ª edição, São Paulo, Atlas, pág. 270), conclui que a responsabilidade subjetiva do Estado não foi de todo banida de nossa ordem jurídica. A regra é a responsabilidade civil, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver uma relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano. Há omissão específica, como diz Guilherme Couto de Castro (A responsabilidade civil objetiva no direito brasileiro, 1977, pág. 37), quando o Estado por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Como bem disse Sérgio Cavalieri Filho, resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica), nos fatos e fenômenos da natureza, determinando-se a responsabilidade da Administração, com base na culpa anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente.
Lembre-se a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de direito administrativo, 19ª edição, nº 54) quando diz que, “nestas hipóteses, o Estado incorre em ilicitude “ por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível”.
Veja-se o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, na matéria, no Recurso Especial 549.812/CE, Relator Ministro Franciulli Netto, DJ de 31 de maio de 2004, que, no campo da responsabilidade civil do Estado, se o prejuízo adveio de uma omissão do Estado, invoca-se a teoria da responsabilidade subjetiva.
V – A RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO DE SOCORRO
Outrossim será caso de responsabilidade civil das autoridades a falta de iniciativas na remoção de moradores de áreas de risco com sua vertente criminal no caso de omissão de socorro, onde o Parquet de São Paulo pode buscar acordos de não persecução penal com fixação de valores a serem revertidos para a população necessitada.
O crime é omissivo próprio.
O tipo penal erigido no artigo 135 do Código Penal revela o egoísmo erigido em delito e pode ser realizado por qualquer pessoa, não sendo necessário que haja precedente dever jurídico de assistência ou guarda em relação ao sujeito passivo, ao contrário do tipo penal de abandono. Há uma violação do dever moral de solidariedade e de assistência. A prestação de socorro a lesionados, sobre ser um dever moral de assistência e solidariedade, constitui um dever jurídico (JUTACRIM 49/190). O dever de assistência é, naturalmente, limitado pela possibilidade e capacidade individual, determinando-se estas diante das circunstâncias do caso concreto. O socorro a que está obrigado o sujeito é somente aquele que, por sua capacidade e as circunstâncias vigentes, lhe foi possível prestar. Não exige a lei que o sujeito pratique ato privativo de médico, por exemplo, pela morte se esta necessitava de tratamento especializado, impossível de ser ministrado no hospital onde trabalhava (RT 514/386). Mas o socorro há de ser imediato, pois a demora ou a dilação importa o descumprimento do dever imposto por lei (RT 541/426).
O sujeito ativo do crime previsto no artigo 135 do CP, como dito é qualquer pessoa. Por sua vez, o sujeito passivo pode ser: criança abandonada ou extraviada (menor que não seja capaz de autodefesa), pessoa inválida ou ferida, ao desamparo; qualquer pessoa, em grave ou iminente perigo. Pessoa inválida é a pessoa incapaz de prover à própria segurança e subsistência, em razão da idade ou ainda moléstia. Estará a vítima, nessas situações, em situação de desamparo, abandonada e sem cuidado. Para Júlio Fabbrini Mirabete (Manual de direito penal, volume III, pág. 111), criança é pessoa que não tem condições de autodefesa por imaturidade e pessoa inválida é aquela que “por condição pessoal, de ordem biológica, física ou psíquica, como doença, defeito orgânico, debilidade ou velhice, não dispõe de forças para dominar o perigo”.
Sendo assim é mister que a pessoa esteja ao desamparo, que “precisando de auxilio que a livre do perigo à incolumidade pessoal, é deixada entregue a si mesma, ao acaso”, ou em grave e eminente perigo, que é grave e iminente quando há ameaça à vítima de modo notável de um resultado lesivo que está para ocorrer, de risco imediato.
Elucidativa a conclusão de Damásio Evangelista de Jesus (Direito penal, volume ((, 4ª edição, pág. 111), para quem “a melhor interpretação do art. 135 do CP é aquela que indica qualquer pessoa em grave e iminente perigo como sujeito passivo de omissão de socorro, não se exigindo que seja inválida ou esteja ferida”. Outra é a posição de Aníbal Bruno (Crimes contra a pessoa, 3ª edição, pág. 121), que pondera que “mas por mais conforme que pareça essa conclusão com o espírito que inspira a atitude do Direito, na hipótese, a redação do dispositivo legal não permite esse entendimento. Ao desamparo e em grave e iminente perigo são condições que qualificam pessoa inválida ou ferida”.
O tipo objetivo envolve deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, ou em não pedir socorro à autoridade pública, ao deparar com a vítima.
VI – DIVERSAS CAUSAS DE INUNDAÇÃO
Disse ainda Clarissa Ferreira Jardim (obra citada) que “nem sempre a produção de danos ocasionados por um desastre natural está ligada ao fato natural.
Nos casos de inundações por transbordamento de córregos, compete ao Município sua canalização e conservação. Em caso de danos decorrentes das falhas de vazão das águas pluviais – tendo o Poder Público conhecimento de tais erros, sem tomar providências com o intuito de evitar ou abrandar as consequências –, vindo a ocorrer lesão ao administrado, deverá o ente municipal ser responsabilizado, principalmente pela sua falta de serviço. Yussef Said Cahali ainda menciona que, mesmo tendo esse transbordamento, e consequente inundação, ocorridos em virtude de forte chuva, a destruição das construções ribeirinhas deve ser acolhida pelo instituto da responsabilidade civil do Estado.”
Lembrou ainda Clarissa Ferreira Jardim (obra citada) que “Conrado Rodrigues Segalla (A revolta das águas: a responsabilidade do estado perante as enchentes urbanas. Belo Horizonte: Del Rey, 2002) informou que alguns fatores podem ensejar inundações – por exemplo, quando as tubulações de escoamento não estiverem funcionando como deveriam. Porém, ainda cita o autor que o fator fundamental para estes desastres está na “impermeabilização indiscriminada do solo urbano”, tais como uso de asfalto, que fazem com que as águas, que antes eram filtradas pelo solo, passem a ser deslocadas para os rios ou córregos, que não possuem capacidade suficiente para receber tal volume de água, e acabem por transbordar, inundando as imediações, causando, portanto, danos à população. Conrado Rodrigues Segalla vai mais além, e disserta que esses fatores, aliados à doutrina da responsabilidade objetiva do Estado, atribuem ao ente municipal o dever de agir com a finalidade de evitar ou atenuar os efeitos danosos deste tipo de catástrofe. Em caso negativo, demonstrada a omissão do Poder Público, deve este ressarcir os danos aos administrados, tese esta também adotada, praticamente nas mesmas palavras, por Yussef Said Cahali (Responsabilidade civil do estado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007).”
Há ainda a questão do deslizamento.
José Carlos de Oliveira (Responsabilidade patrimonial do estado. São Paulo: Edipro, 1995) definiu “os deslizamentos de terras como aqueles que ocorrem pela “infiltração das águas das chuvas que minam a resistência mecânica do solo, propiciando meios para que acamada superficial procure as partes mais baixas”. Enfatiza o autor que, decorrente deste deslizamento, a lama que desce leva consigo, principalmente, as casas de famílias que residem nestes locais. Observa, ainda, que deslizamento de terra é um fenômeno geológico que inclui um largo espectro de movimentos do solo, tais como quedas de rochas, falência de encostas em profundidade e fluxos superficiais de detritos. Os maiores danos ocasionados à população em decorrência deste tipo de desastre natural se dão pelo fato de pessoas residirem nestas áreas de encostas de morros ou até no alto deles.
Como bem acentuou o Globo, em editorial, em 21.2.2023, “o Brasil carece de um plano informando quantas moradias em áreas de risco precisam ser reforçadas e quantas deveriam ser demolidas, com realocação dos moradores. Sem essas informações, não se tem ideia de custo e não se pode começar a pensar em fontes de financiamento.”
Em dezembro, a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou projeto de lei que cria mecanismos para integrar o ordenamento urbano das cidades e a política nacional de defesa civil.
O texto prevê que estados e municípios tenham plano de gestão de risco para desastres naturais. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 59,4% das prefeituras carecem de um. Não será uma nova lei que resolverá o problema, mas ela é um passo no caminho certo.
Em todos esses casos avulta a questão da prevenção e da precaução de forma a evidenciar se houve ou não omissão da Administração com relação aos cuidados necessários diante dessas enchentes.
*É Procurador Regional da República e Doutor em Direito (PhD in Law) pelo King’s College London – KCL.
Este texto não representa necessariamente a mesma opinião do blog. Se não concorda faça um rebatendo que publicaremos como uma segunda opinião sobre o tema. Envie para o bruno.269@gmail.com.