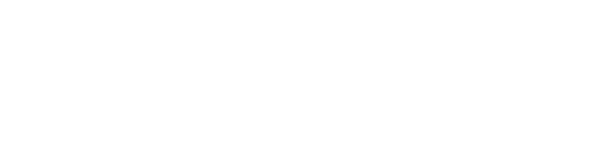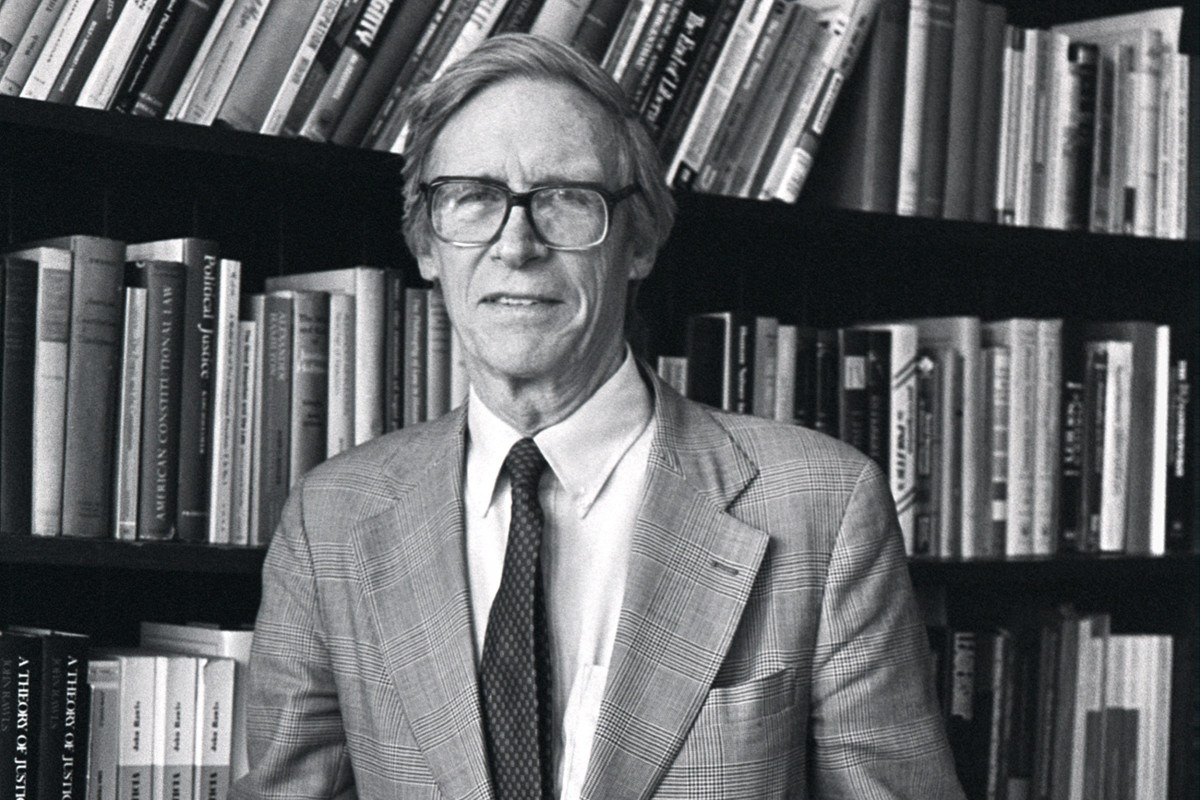Por Marcelo Alves Dias de Souza*
A pedido de amigos, vou voltar a uma temática tratada dia desses, o common law, a conhecida tradição jurídica anglo-americana, desta feita para abordar algumas diferenças entre os direitos dos dois principais países a ela filiados, o Reino Unido e os Estados Unidos da América.
Como sabemos, a formação dos EUA remonta à fundação, pelos ingleses, nos albores do século XVII, de colônias independentes no chamado novo mundo (a primeira, em 1607, foi a Virginia). E, hoje, com a exceção do estado da Luisiana, o direito dos EUA está identificado com os princípios do common law inglês: conceitos semelhantes do direito e de suas funções, divisões similares quanto aos seus ramos, desenvolvimento de institutos jurídicos idênticos (torts, trust etc.) e um papel fundamental para o precedente judicial, entre outros.
Entretanto, no decorrer da história, o direito americano adquiriu características que o fazem diferir do direito inglês. A existência de uma Constituição escrita e rígida, o princípio da supremacia da constituição, o fato de ser uma federação, a descentralização do Poder Judiciário, a existência de alguns códigos, para citar as mais importantes, são singularidades que de fato fazem o direito americano algo diferente do seu modelo inspirador.
Compreende-se isso bem quando se faz uma comparação direta entre alguns aspectos dos dois sistemas jurídicos. Victoria Sesma, com o seu “El precedente en el common law” (Civitas, 1995), nos poupa parte desse trabalho: “Em primeiro lugar, a fundamentação do direito do common law (isto é, que o direito está baseado na autoridade não escrita do costume) é rejeitada nos EUA, onde está claro que a Constituição é a fonte fundamental e superior do sistema jurídico dos EUA. (…). Além disso, a Constituição americana prevalece sobre qualquer lei, enquanto que na Inglaterra o poder do Parlamento é ilimitado. Isto tem levado a que (devido à frequente necessidade de interpretação de preceitos constitucionais) os juízes dos EUA tenham enfrentado muito mais que os ingleses problemas de política pública (public policy), em particular no conflito entre direitos inalienáveis (vested rights) e política do estado social (social state policy). (…). Em segundo lugar, os EUA (diferentemente da Inglaterra) têm uma estrutura federal em que há dois sistemas de tribunais: estaduais e federais. Aqui não somente existem jurisdições próprias em cada estado, como também há uma multiplicidade de jurisdições federais ao longo de todo o território dos EUA e não somente na capital federal. A dispersão da organização judicial nos EUA acarreta problemas que não se apresentam na Inglaterra, e se tende a adotar atitudes mais flexíveis a respeito da autoridade das decisões judiciais. Em terceiro lugar, a necessidade de uma sistematização do direito se sentiu antes e mais urgente nos EUA que na Inglaterra, devido à quantidade de material jurídico, que é tanta, que se tornou praticamente inviável administrá-lo”.
Por fim, no que tange aos precedentes judiciais, área de minha expertise, o direito americano possui uma visão bem peculiar. Se bem que a função do precedente seja basicamente a mesma, os conceitos dos institutos sejam os mesmos, ele é mais flexível, mais pragmático e menos conservador que o direito inglês. Como regra, os precedentes devem ser seguidos porque, no interesse da sociedade, o direito deve ser estável e uniforme. Mas, como consta da decisão da Supreme Court em Hertz v. Woodman 218 US 205 [1910], a regra do stare decisis não é inflexível. Mesmo em se tratando de um precedente a priori obrigatório, os tribunais americanos não se consideram obrigados a segui-lo se ele não prima pela correção e razoabilidade; ademais, a validade de um precedente está condicionada à situação política, econômica e social presente.
As diferenças são justificáveis. Primeiramente, o número de precedentes nos EUA é colossal. Um sistema de Justiça Federal, ao lado de dezenas de sistemas estaduais, faz com que se tenham comumente precedentes contraditórios. E isso dá aos juízes a possibilidade de escolha do precedente mais adequado. Em segundo lugar, a rápida expansão americana implica mudanças políticas e sociais e isso sugere, comparando-se com a conservadora Inglaterra, que a estrita adoção da doutrina do stare decisis seja mais problemática. Por derradeiro, as questões constitucionais têm um papel crucial nos EUA. A interpretação do direito constitucional – eminentemente político – é caracterizada pela flexibilidade. E essa flexibilidade, na aplicação dos precedentes judiciais constitucionais, contamina, em maior ou menor grau, as outras áreas do direito. Fato!
*É Procurador Regional da República e Doutor em Direito (PhD in Law) pelo King’s College London – KCL.
Este texto não representa necessariamente a mesma opinião do blog. Se não concorda faça um rebatendo que publicaremos como uma segunda opinião sobre o tema. Envie para o barreto269@hotmail.com e bruno.269@gmail.com.