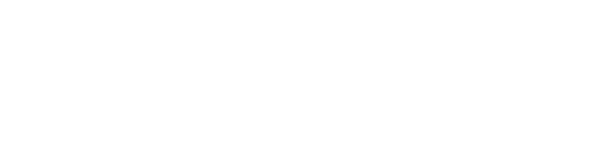UM DECRETO DE INDULTO INCONSTITUCIONAL
Rogério Tadeu Romano
Segundo o G1 São Paulo, em 23.12.2022, “o decreto do último indulto de Natal do presidente Jair Bolsonaro (PL), publicado nesta sexta-feira (23) no Diário Oficial da União, perdoa as penas e extingue as condenações dos policiais militares culpados na Justiça pelo caso conhecido como Massacre do Carandiru. Em 2 de outubro de 1992, 111 presos foram mortos durante invasão da Polícia Militar (PM) para conter rebelião no Pavilhão 9 da Casa de Detenção em São Paulo.
Segundo o decreto presidencial do indulto deste ano, estarão perdoados agentes de forças de seguranças que foram condenados por crimes ocorridos há mais de 30 anos, mesmo que eles não tenham sido condenados em definitivo na última instância da Justiça. Os PMs condenados pelo Massacre do Carandiru se encaixam nesse perfil. O caso completou três décadas em 2022.”
Ainda de acordo com o decreto, o indulto se aplica “às pessoas que, no momento do fato, integravam os órgãos de segurança pública, na qualidade de agentes públicos”.
O indulto pode ser individual ou coletivo. O primeiro não deixa de ser uma forma de graça com outro nome e poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, que será encaminhado, com parecer do Conselho Penitenciário, ao Ministério da Justiça, onde será processado e depois submetido a despacho do Presidente da República. Por sua vez, o indulto coletivo é concedido independentemente de provocação, sem audiência dos órgãos técnicos, pelo Presidente da República, em ocasiões especiais, sendo uma tradição o indulto coletivo, concedido, todos os anos, nas vésperas do Natal.
Trata-se de forma de extinção de punibilidade.
No caso trazido à colação parece ser caso em que se colocaria o policial acima da lei.
Em manifestação sobre a matéria disse a ministra Cármen Lúcia:
“Indulto não é prêmio ao criminoso nem tolerância ao crime. Nem pode ser ato de benemerência ou complacência com o delito, mas perdão ao que, tendo-o praticado e por ele respondido em parte, pode voltar a reconciliar-se com a ordem jurídica posta”.
Em passado recente, a ministra Cármen Lúcia deferiu medida cautelar para suspender os efeitos de dispositivos do Decreto 9.246/2017 que reduziram o tempo de cumprimento da pena para fins de concessão do chamado indulto de Natal. “Indulto não é e nem pode ser instrumento de impunidade”, afirma a ministra na decisão, tomada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5874,
A ministra explicou a natureza do indulto, adotado no Brasil desde a Constituição de 1891 “em situações específicas, excepcionais e não demolidoras do processo penal” a fim de se permitir a extinção da pena pela superveniência de medida humanitária. A medida, segundo a ministra, é um gesto estatal que beneficia aquele que, tendo cumprido parte de seu débito com a sociedade, obtém uma nova chance de superar seu erro, fortalecendo a crença no direito e no sistema penal democrático. “Indulto não é prêmio ao criminoso nem tolerância ao crime”, ressaltou. “O indulto constitucionalmente previsto é legitimo apenas se estiver em consonância com a finalidade juridicamente estabelecida. Fora daí é arbítrio.
Sustentou a autora da ação (PGR) que “não há dúvida jurídica de que o indulto é ato discricionário e privativo do Presidente da República, disciplinado no artigo 84, inciso XII da Constituição. O Presidente pode concedê-lo segundo critérios de conveniência e de oportunidade, sob a premissa inafastável, no entanto, da finalidade constitucional do instituto, que é a de prevenir o cumprimento de penas corporais desproporcionais e indeterminadas”.
Afirma que, “todavia, discricionariedade não é arbitrariedade, pois esta não tem amparo constitucional, enquanto aquela deve ser usada nos limites da Constituição” e continua sua argumentação apontando que “nestes limites, não é dado ao Presidente da República extinguir penas indiscriminadamente, como se seu poder não tivesse limites: e o limite do seu poder, no caso do indulto, é o livre exercício da função penal pelo Poder Judiciário, encarregado de aplicar a lei ao caso concreto e, assim produzir os efeitos esperados do Direito Penal: punir quem cometeu o crime, fazê-lo reparar o dano, inibir práticas semelhantes pelo condenado e por outrem, reabilitar o infrator perante a sociedade. Estes objetivos do direito penal, alcançáveis por meio da função penal exercida pelo Poder Judiciário, ficarão frustrados se o indulto anular a atuação judicial, descredenciando-o com uma exoneração ampla, em bases que gerem impunidade e atraiam a desconfiança em torno da capacidade do Estado de punir o crime e os criminosos. Os limites constitucionais do indulto derivam direta e precisamente do princípio constitucional da separação e da harmonia dos poderes”.
Destaco do voto do ministro Alexandre de Morais naquele julgamento:
“Assim como nos demais atos administrativos discricionários, como apontado por VEDEL, há a existência de um controle judicial mínimo, que deverá ser sob o ângulo de seus elementos, pois, embora possa haver competência do agente, é preciso, ainda, que os motivos correspondam aos fundamentos fáticos e jurídicos do ato, e o fim perseguido seja legal (GEORGES VEDEL. Droit administratif. Paris: Presses Universitaires de France, 1973. p. 320). O Poder Judiciário deve exercer somente o juízo de verificação de exatidão do exercício de oportunidade perante a constitucionalidade do Decreto de Indulto. A análise da constitucionalidade do Decreto de Indulto deverá, igualmente, verificar a realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão discricionária com os fatos. Se ausente a coerência, o indulto estará viciado por infringência ao ordenamento jurídico constitucional e, mais especificamente, ao princípio da proibição da arbitrariedade dos poderes públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da discricionariedade, evitando que se converta em causa de decisões desprovidas de justificação fática e, consequentemente, arbitrárias (TOMAS-RAMON FERNÁNDEZ. Arbitrariedad y discrecionalidad. Madri: Civitas, 1991. p. 115).
……
Não é possível transferir a redação do indulto para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de maneira que, a cada nova edição pelo Presidente da República, a CORTE possa reanalisar o mérito do decreto e as legítimas opções realizadas. Com o devido respeito às posições em contrário, não compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reescrever o decreto de indulto, pois, ou o Presidente da República extrapolou o exercício de sua discricionariedade, e, consequentemente, a norma é inconstitucional; ou, entre as várias opções constitucionalmente lícitas, o Presidente da República escolheu validamente uma delas, e, consequentemente, esta opção válida não poderá ser substituída por uma escolha discricionária do Poder Judiciário, mesmo que possa parecer melhor, mais técnica ou mais justa.
…….
Na presente hipótese, não houve desrespeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que não se vislumbra o desrespeito às necessárias proporcionalidade, justiça e adequação entre o expresso mandamento constitucional (artigos 5º, XLIII e 84, XII da Constituição Federal) e o decreto de indulto; e, consequentemente, não há inconstitucionalidade da norma, pois, como salientado por AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183), a atuação do Poder Público será sempre legítima, quando apresentar racionalidade, ou ainda, no dizer de ROBERTO DROMI (Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36), a razoabilidade engloba a prudência, a proporção, a indiscriminação à proteção, a proporcionalidade, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade perante o texto constitucional.”
O instrumento pela qual se formaliza o indulto é um ato administrativo emanado do presidente da República.
Discute-se se o Judiciário, diante de um ato administrativo editado de forma discricionária pelo chefe do Executivo, pode adentrar em sua análise e reformá-lo.
O indulto existe desde antes do Estado Democrático de Direito: era concedido por reis, em um contexto de amplos poderes e de imposição de penas mais duras que as de hoje. Apesar disso, foi mantido no decorrer da História e transformado em instituto de política criminal, voltado a evitar superpopulação carcerária. Trata-se de uma “competência política” conferida ao chefe do Executivo legitimado pelo voto.
O indulto é dado em hipóteses abstratas. Não pode ser concreto e individual. A graça é para situações específicas. Mas está em desuso. Qual o problema de você extinguir a punibilidade de pessoas determinadas? Isso se choca com Estado democrático de Direito. A República exige que quem comete crime seja punido. Quando são isentas pessoas específicas, há tensão com dever de punição. Pode haver desvio de finalidade, que é adaptar a medida não para perseguir o interesse público, mas para proteger determinada categoria, seria inválido esse ato da Administração.
Não é poder absoluto. Apesar de ter margem de ação muito ampla, não é poder à margem da Constituição. Um limite central seria violado se fosse só para policiais nesse contexto que o presidente Bolsonaro já várias vezes tem defendido, de excludente de ilicitude. Seria uso indevido do indulto. Indulto genérico a policiais que matem em serviço também me parece inconstitucional. Se for execução, tem que ser punido.
Ainda o indulto é para quem está cumprindo pena. Assim será necessário que o beneficiado já tenha sido condenado com sentença penal com trânsito em julgado.
Ademais, é mister que se lembre que a Constituição Federal, e na sua linha a lei de crimes hediondos, proíbe a concessão de indulto para crimes hediondos.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º inciso XLIII, positivou que não seriam susceptíveis de graça e anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos.
Sabe-se que esse inciso, inexistente nas Constituições anteriores, consiste no desdobramento dos princípios fundamentais do artigo 1º da Constituição, de sorte que ali estão traçados princípios constitucionais impositivos.
Estamos diante de um artigo que procura arrolar os direitos fundamentais da pessoa humana.
Procura-se com a leitura e dicção do artigo 5º, inciso XLIII, evitar ações agressivas, com a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e crimes que são definidos na legislação ordinária como crimes hediondos.
O caso em concreto aqui abordado poderá ser objeto de análise pelo STF por suas próprias razões jurídicas, sendo caso de entender se o Executivo agiu dentro dos limites da proporcionalidade ao determinar o indulto aqui noticiado.
Trago a lição de Willis Santiago Guerra Filho (Ensaios de teoria constitucional. Fortaleza, UFC, Imprensa Universitária, 1989, pág. 75) de feliz síntese:
¨Resumidamente, pode-se dizer que uma medida é adequada, se atinge o fim almejado, exigível, por causar o menor prejuízo possível e finalmente proporcional em sentido estrito, se as vantagens superarem as desvantagens.”
Os referenciais para a análise da proporcionalidade são a necessidade e adequação. Ambos se reúnem no princípio da proporcionalidade, assim sintetizado por Eugênio Pacelli (Curso de processo penal, São Paulo, Atlas, 2013, pág. 504), consoante vemos:
a) na primeira, desdobrando-se, sobretudo, na proibição de excesso, mas, também, na máxima efetividade dos direitos fundamentais, serve de efetivo controle da validade e do alcance das normas, autorizando o intérprete a recusar a aplicação daquela norma que contiver sanções ou proibições excessivas e desbordantes da necessidade de regulamentação;
b) na segunda, presta-se a permitir um juízo de ponderação na escolha da norma mais adequada em caso de eventual tensão entre elas quando mais de uma norma constitucional se apresentar aplicável ao mesmo fato.
Assim proíbe-se o excesso e busca-se a adequação da medida.
De outra forma, se o decreto presidencial procura proteger casos individuais há claramente uma afronta ao princípio da impessoalidade, sendo caso de desvio de finalidade, situação que leva ao anulamento desse ato.
Repito, na íntegra, a lição de Miguel Seabra Fagundes (O controle dos atos administrativos, 2ª edição, pág. 89 e 90), assim disposta; “A atividade administrativa, sendo condicionada pela lei à obtenção de determinados resultados, não pode a Administração Pública dele se desviar, demandando resultados diversos dos visados pelo legislador. Os atos administrativos devem procurar as consequências que a lei teve em vista quando autorizou a sua prática, sob pena de nulidade.”
Consoante a Revista do Oeste, em 25.12.2022, tem-se:
“O MPSP enviou a representação contra a decisão de Bolsonaro ao Procurador-Geral da República (PGR), Augusto Aras. O documento é assinado por Mário Luiz Sarrubbo, Procurador-Geral de Justiça.
Segundo o ofício, “a concessão do indulto se incompatibiliza com esses dispositivos da Convenção Americana de Direitos Humanos promulgada pelo Decreto n. 678, de 06 de novembro de 1992, razão pela qual requer a Vossa Excelência a tomada de providências urgentes em face dos preceitos impugnados por incompatibilidade com o art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, e as normas acima indicadas da Convenção Americana de Direitos Humanos, por ação direta de inconstitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito fundamental“, afirma no ofício.”
Dir-se-á que a Convenção Americana de Direitos Humanos assim disciplina:
Artigo 7 NINGUÉM poderá ser submetido à tortura, nem a penas ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes. Será proibido sobretudo, submeter uma pessoa, sem seu livre consentimento, a experiências médias ou cientificas.
Trata-se de norma internacional que tem hierarquia superior à lei interna, à luz da Emenda Constitucional nº 45/2004.
Observe-se, então, que o decreto referenciado agride claramente princípios constitucionais, ao personalizar sua área de abrangência e agredir preceitos atinentes à proteção da pessoa humana.