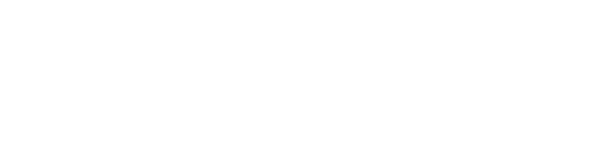Por Rogério Tadeu Romano*
O site Brasil de Fato, em 16.12.2022, nos informou:
“O governo do ex-capitão Jair Bolsonaro (PL) aprovou, na quinta-feira (15), a extinção da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), órgão cuja função é investigar crimes praticados durante a ditadura militar. A decisão ocorre a 15 dias da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O órgão foi instituído em 1995 e era ligado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).”
Em nota, a Comissão Arns, que tantos serviços fez em prol dos direitos humanos no Brasil, disse:
“O fim da CEMDP interromperia abruptamente uma série de ações para a elucidação de casos de desaparecimento e morte de pessoas vítimas da repressão ditatorial, que até hoje não foram resolvidos. Essa é uma dívida do Estado brasileiro para com as famílias dos mortos e desaparecidos políticos, que não tiveram respeitada a dignidade fundamental de enterrar seus entes queridos, e a sociedade brasileira, de modo geral.”
A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) foi instituída por meio da Lei nº 9.140, de 04 de dezembro de 1995.
A Lei 9140, que a instituiu, “reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razão de participação, ou acusação de participação, em atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979.” Em seu primeiro artigo, ela afirma que “são reconhecidos como mortas, para todos os efeitos legais, as pessoas que tenham participado, ou tenham sido acusadas de participação, em atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 5 de outubro de 1988, e que, por este motivo, tenham sido detidas por agentes públicos, achando-se, deste então, desaparecidas, sem que delas haja notícias”. Entre suas atribuições, reconhecer aqueles que haviam morrido (por assassinato, ferimentos, doenças ou suicídio) em decorrência de atos ilegais realizados pelo Estado em decorrência das opções políticas dos falecidos, para fins de emissão de atestado de óbito, anistia ou indenização, além de investigar as condições da morte e localização de restos mortais. No momento imediato à promulgação da lei, o Estado reconheceu 136 desaparecidos políticos, e todos os casos restantes foram encaminhados à Comissão (CEMDP), como lembrou o site Que República é essa?
O Estado brasileiro reconhecia seus crimes em um período sombrio durante o qual o regime de exceção instaurado em 1964 combatia a oposição sequestrando, torturando, exilando, cassando e caçando militantes e seus familiares. Tais crimes incluem violações dos direitos humanos, estabelecidos por leis nacionais e tratados ou declarações internacionais dos quais o Brasil é signatário (Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes em 1984, Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969, por exemplo).
Mister que se lembre que esse órgão mencionado não é órgão do aparelho do governo, mas órgão de Estado que foi criado para apurar delitos cometidos durante a ditadura militar.
Na busca da verdade, a Comissão de Mortos e Desaparecidos busca investigar e avaliar o que houve naquele triste período antidemocrático da história do Brasil e determinar se houve ou não ofensa a direitos humanos, determinando, quando necessário, o seu quantum para efeito de liquidação dos prejuízos.
A Lei nº 9140, de 4 de dezembro de 1995, reconheceu como mortas as pessoas desaparecidas em razão de participação, ou acusação de participação, em atividades políticas no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979.
Dessa forma o Estado brasileiro reconheceu a responsabilidade no desaparecimento forçado de 136 pessoas relacionadas no Anexo I da Lei.
A Lei previu ainda a criação de uma Comissão Especial, que foi instituída pelo Decreto de 18 de dezembro de 1995, com as seguintes atribuições:
I – Proceder ao reconhecimento de pessoas:
- a) desaparecidas, não relacionadas no Anexo I da Lei;
- b) que, por terem participado ou por terem sido acusadas de participação em atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, tenham falecido, por causa não naturais, em dependências policiais ou assemelhadas.
II – localização de corpos de pessoas desaparecidas no caso de existência de indícios quanto ao local em que possam estar depositados.
Inúmeras farsas montadas pelos órgãos da ditadura foram objeto da devida investigação.
Em 2007 foi lançado o livro-relatório “Direito à Memória e à Verdade – Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos”, que apresenta a história de mais de 400 pessoas mortas pelas mãos do Estado, e posteriormente outras publicações foram realizadas,
É certo que o atual executivo federal tem um compromisso com as ideias pautadas pela extrema –direta que apoiam os delitos praticados naqueles “anos de chumbo”, um triste período da história nacional.
Disse bem Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakay, em artigo, ‘Tortura Nunca Mais”, in Portal IG ÚLTIMO SEGUNDO, em 21.4.22:
“Quando o Presidente da República exalta o sofrimento e homenageia o torturador, ele dá um sinal para os monstros teratológicos saírem das trevas e assumirem suas faces verdadeiras a olho nu.”.
Disse ainda Antônio Carlos de Almeida Castro naquela reportagem:
“O episódio da revelação dos áudios das sessões do Superior Tribunal Militar é de uma gravidade inaudita. Todos nós conhecemos o Projeto Brasil Nunca Mais, coordenado pelo magnífico Dom Paulo Evaristo Arns que, em 1985, em um ato de grande coragem e desprendimento do nosso inesquecível Sigmaringa Seixas, dentre outros, apresentou provas incontestáveis, baseadas em autos da Justiça Militar, de inúmeros casos de tortura.”
O então deputado Jair Messias Bolsonaro afirmou “Quem procura osso é cachorro”, em referência a pessoas que ainda buscam pelos restos mortais de pessoas desaparecidas naquele triste período da história.
Veja-se o emblemático caso da morte de Gastone Lúcia Carvalho Beltrão.
Em 25 de janeiro de 1972, uma terça-feira, na página 20, há perto de cinquenta anos, O Globo, trazia na manchete de uma de suas reportagens:
“Pistoleira fere e morre em duelo com Policiais”.
Ali descrevia-se o fato como ocorrido na Av. Lins de Vasconcelos, partindo da Vila Mariana, e inventava o “ladrão” João Ferreira da Silva, denominado Tião, este que sequer existiu. Apontava Gastone Beltrão como criminosa comum e não como “subversiva”, nome que era dado aos militantes armados da época pelos órgãos repressores.
Trago o que se disse naquela reportagem:
“No ponto de ônibus, ao lado do assaltante João Ferreira da Silva, perigoso marginal procurado, estava a jovem loura. Os três policiais de ronda se aproximaram para a captura, quando foram surpreendidos pela mulher, que sacou revolver da bolsa e abriu fogo. Dois policiais caíram baleados e o terceiro continuou na perseguição da mulher, pois seu comparsa desapareceu.”.
Mais adiante, na avenida, o policial alcançou a pistoleira que, novamente, resistiu à bala, na iminência de prisão. Atingida por disparos do policial, ela faleceu a caminho do hospital.
A reportagem ainda destaca que “ela, na escapada, deixou cair a bolsa com documentos, que foi apanhada na rua pelo transeunte Adalberto Nadur. Este a entregou ao agente que estava no encalço da pistoleira. O policial embarcou em um táxi para localizar a mulher, mas esqueceu a bolsa no veículo. Um apelo pelo rádio foi feito ao motorista de táxi para que entregasse a bolsa no local mais próximo à sua residência, pois somente com eles a polícia poderia identificar a morta através dos documentos ou pista.”
Sabendo se sua morte, freis dominicanos enviaram uma carta a um professor de história da UFAL, orientando-o a procurar a família de Gastone e informar a triste notícia.
Procurou Moacyra, sua irmã, e repassou as informações. Imediatamente, Zoraide, sua mãe, viajaria a São Paulo em busca de notícias.
Em site nominado Documentos Revelados, certidão de óbito de Gastone Carvalho Beltrão, militante da resistência assassinada pela ditadura, tem-se o que segue, em conclusão daquele pedaço da história brasileira:
“Chegando ao DOPS, foi informada que existia sim uma Gastone e que teria sido morta há dois meses. No outro dia, conseguira falar com Sérgio Fleury que, num primeiro momento, disse não lembrar de Gastone. Feita a descrição física, o delegado torturador disse que “essa moça era muito corajosa e forte, resistiu até a última hora” e contara a versão do DOPS, de que teria sido assassinada em tiroteio, versão esta totalmente infundada.”
Gastone Lúcia Carvalho Beltrão morreu em 22 de janeiro de 1972, era uma militante comunista e foi enterrada no Cemitério de Perus como indigente. Três anos depois, em 1975, sua família levou seus restos mortais para Alagoas onde foram colocados no túmulo da família.
A questão que se põe aqui é que houve uma farsa quando de sua morte.
Como acentuou aquele site, “na manhã de 22 de janeiro de 1972, saiam Gastone e José do “aparelho”. Encontraram com o militante Antônio Carlos Bicalho Lana e seguiriam para uma reunião com um dirigente da organização. Porém, agentes do DOPS estavam no encalço dos três militantes, que seguiam de Jipe. A equipe de agentes era comandada pelo delegado Sérgio Fleury.
Gastone ficara para fazer compras para a organização numa pequena mercearia, situada no cruzamento entre as ruas Heitor Peixoto e Inglês de Souza, no bairro da Aclimação. Trajava calça e camisa de mangas compridas, de cor escura. A partir de sua descida, os agentes perderam o Jipe de vista. Resolveram, então, capturar Gastone – ou Rosa, nome que usava na clandestinidade.
Quando se aproximaram, com armas em punho, Gastone protegera-se em um balcão e trocara tiros. Foi sumariamente metralhada. Mas não morta. Segundo o dossiê de mortos e desaparecidos políticos, Gastone apresentava marcas de algemas nos pulsos e o chamado “tiro de misericórdia”, no meio da testa. Ao que tudo indica, morrera no translado ou numa sala de tortura.”
Colho ainda mais detalhes sobre o que aconteceu naquele 22 de janeiro de 1972 para o caso:
“O Laudo de Perícia Técnica 8.355, localizado nos arquivos da Polícia Técnica de São Paulo, tem a seguinte informação: Às dezessete horas do dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e setenta e dois, este Instituto de Polícia Técnica recebeu do Delegado de Polícia de Plantão no sexto Distrito policial, Del. Jácomo José Orselli, um comunicado, por telefone e, posteriormente, confirmado pela requisição de exame BOAD nº 42/72, na qual solicitava exame pericial em prédios da Rua Inglês de Souza, da Rua Basílio da Cunha, em veículo e em cadáver até então desconhecido.”.
Passados alguns anos, seu prenome e sobrenome civil dão nome a uma escola em seu estado, Alagoas.
Aquela época, em plena ditadura militar, minha informação era dada pelos veículos da mídia, preocupa-me com a guerra do Vietnam. Mas o que me colocava a pensar era como iria me preparar para passar bem no vestibular para a Faculdade de Direito, como passei para a UEG, depois UERJ, fazer meu curso de Direito e me adentrar no mercado, fazer concursos. E foi o que fiz. Muitos jovens da minha idade assim pensavam orientados por suas famílias e seus professores. Eram os chamados” anos de chumbo “onde houve forte divergência de ideias. Não cabe aqui fazer juízo de valor sobre elas.
Foi um tempo difícil da vida nacional.
Mas quando das apurações da Comissão da Verdade deparei-me para os meus estudos com Gastone.
A versão que o governo militar apresentou ao país foi uma farsa, repito.
O laudo oficial necroscópico do corpo de Gastone, assinado pelos legistas Isaac Abramovitc e Walter Sayeg, aponta treze ferimentos de arma de fogo. O documento diz: “[…] após travar violento tiroteio com agentes dos órgãos de Segurança, no transcorrer do qual feriu três policiais, foi ferida e, em consequência, veio a falecer”. O delegado Sérgio Paranhos Fleury, do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), foi responsável pelo caso de Gastone.
Isso não era verdadeiro.
O perito Nenevê, inclusive em reportagem elucidativa para o History Chanel sobre o caso, trouxe para a sociedade a verdadeira versão.
Com apoio da tecnologia, Nenevê analisou as fotos divulgadas pela polícia em 1972 e, ampliando as imagens, concluiu que Gastone havia sofrido 34 lesões, em vez das 13 descritas no laudo anterior. Chamou a atenção do perito duas lesões, uma na região mamária e outra na região frontal. Ao ampliar a foto da ferida na região mamária em 20 vezes, averiguou que, em vez de tiro, tratava-se de uma lesão em fenda, produzida por faca ou artefato pontiagudo, devido o formato em “meia-lua”. O ferimento na região frontal sugere tiro disparado à queima-roupa, ou seja, com o agressor estava muito perto da vítima. Estas conclusões de Celso Nenevê quebram os laudos apresentados anteriormente que sustentam a ideia de um tiroteio.
O Wikipédia nos diz, outrossim, que entretanto, as circunstâncias da morte de Gastone não foram investigadas, mas a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos (CEMDP) identificou que a militante Gastone Lúcia Carvalho Beltrão, medindo 1,55 m de altura e com 34 lesões, entre tiros e facadas por todo o corpo, não morreu em um violento tiroteio e sim depois de ser capturada por agentes dos órgãos de segurança do regime militar.
Como assassinar barbaramente uma jovem medindo 1,55 m de altura com 34 lesões, entre tiros e facadas por todo o corpo?
Seria caso de modificar o registro de óbito que foi exarado há perto de cinquenta anos atrás.
Roberto Navarro (Mundo estranho) assim escreveu sobre a tortura na ditadura militar, no Brasil:
“Uma pesquisa coordenada pela Igreja Católica com documentos produzidos pelos próprios militares identificou mais de cem torturas usadas nos “anos de chumbo” (1964-1985). Esse baú de crueldades, que incluía choques elétricos, afogamentos e muita pancadaria, foi aberto de vez em 1968, o início do período mais duro do regime militar. A partir dessa época, a tortura passou a ser amplamente empregada, especialmente para obter informações de pessoas envolvidas com a luta armada. Contando com a “assessoria técnica” de militares americanos que ensinavam a torturar, grupos policiais e militares começavam a agredir no momento da prisão, invadindo casas ou locais de trabalho. A coisa piorava nas delegacias de polícia e em quartéis, onde muitas vezes havia salas de interrogatório revestidas com material isolante para evitar que os gritos dos presos fossem ouvidos. “Os relatos indicam que os suplícios eram duradouros. Prolongavam-se por horas, eram praticados por diversas pessoas e se repetiam por dias”, afirma a juíza Kenarik Boujikain Felippe, da Associação Juízes para a Democracia, em São Paulo. O pau comeu solto até 1974, quando o presidente Ernesto Geisel tomou medidas para diminuir a tortura, afastando vários militares da “linha dura” do Exército. Durante o governo militar, mais de 280 pessoas foram mortas – muitas sob tortura. Mais de cem desapareceram, segundo números reconhecidos oficialmente. Mas ninguém acusado de torturar presos políticos durante a ditadura militar chegou a ser punido. Em 1979, o Congresso aprovou a Lei da Anistia, que determinou que todos os envolvidos em crimes políticos – incluindo os torturadores – fossem perdoados pela Justiça. Veja-se, pois, que o Brasil ainda necessita dessa Comissão para expor, diante de sua Constituição-cidadã de 1988, elaborada e promulgada em defesa da democracia, toda a verdade daqueles tristes acontecimentos ocorridos diante da ditadura militar.
*É procurador da República aposentado com atuação no RN.
Este texto não representa necessariamente a mesma opinião do blog. Se não concorda faça um rebatendo que publicaremos como uma segunda opinião sobre o tema. Envie para o bruno.269@gmail.com.