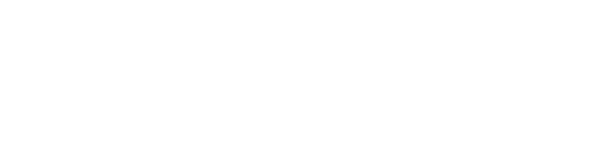Por Rogério Tadeu Romano*
I – O FATO
Colho impressionante relato noticiado pelo Blog de Jamildo, em 16.6.2023:
“Um suposto “roteiro do golpe” foi publicado nesta sexta-feira (16), pela revista Veja, contendo mensagens trocadas pelo ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, e militares, numa tentativa de manter o então presidente no poder após ele ser derrotado por Lula nas Eleições 2022.
De acordo com os documentos obtidos pela reportagem, o plano teria como base uma ação de militares, que poderiam ser convocados para arbitrar um conflito entre os poderes.
Nesse sentido, o projeto dos bolsonaristas partiria da ideia de que o Judiciário (entende-se o TSE e o STF) e os conglomerados da mídia brasileira teriam atuado de forma abusiva no pleito, o que, no plano orquestrado, justificaria uma intervenção militar para realizar uma nova eleição.
O documento, que possui três páginas, detalha o “passo a passo” do golpe: o presidente encaminharia um relato das supostas inconstitucionalidades para as Forças Armadas, que, uma vez concordando com o argumento, nomeariam um interventor com supostos poderes absolutos.
Depois, ele suspenderia decisões consideradas inconstitucionais, como a diplomação de Lula, por exemplo, e afastaria ministros do STF, como Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, que na época integravam o TSE, e convocariam como substitutos Nunes Marques e André Mendonça (indicados por Bolsonaro ao Supremo), além de Dias Toffoli.”
II – O ARTIGO 359 – L DO CÓDIGO PENAL E A TENTATIVA DE GOLPE DE ESTADO
Trata-se de um verdadeiro golpe de estado tramado.
O caso é gravíssimo.
Tem-se o artigo 359 – L do CP:
Art. 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais:
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência.
Sobre o tema disse Fernando Augusto Fernandes (O terrorismo por omissão e o artigo 359 – L do Código Penal, in Consultor Jurídico, em 29.12.2002):
“O crime mais adequado, contudo, é o do artigo 359-L, incluído no Código Penal pela Lei nº 14.197/21, que descreve a conduta de “tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais”, com pena é de 4 a 8 anos, “além da pena correspondente à violência”. Apesar do artigo sobre violência política (artigo 359-P, do CP) ter também deixado de fora o fim político da conduta delituosa e optado por “razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”, o crime de abolição violenta do Estado de Direito já traz a tentativa no próprio crime, sem limitação da atuação que naturalmente é política.
Trata-se de crime formal, que exige o dolo como elemento do tipo. A ação pode vir por violência ou ameaça, que há de ser séria, objetivando, inclusive, restringir o exercício de um poder da República, para o caso o Judiciário.
A ameaça deve ser realizável, verossímil, não fantástica ou impossível. O mal prometido, segundo forte corrente, entende que o mal deve ser futuro, mas até iminente, e não atual. Só a ameaça séria e idônea configura esse crime.
O crime é de perigo presumido.
Fatalmente, tendo a Lei de Defesa do Estado Democrático substituído a Lei de Segurança Nacional, não pode ser esquecido que delitos perpetrados com motivação política são, portanto, crimes políticos.
Outro crime, por sua vez, ainda contra as instituições democráticas é o crime de tentativa de golpe de Estado.
Art. 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído: (Incluído pela Lei nº 14.197, de 2021) (Vigência)
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos, além da pena correspondente à violência. (Incluído pela Lei nº 14.197, de 2021)
O delito de golpe de Estado está localizado no Capítulo II da nova lei, chamado de dos Crimes contra as Instituições Democráticas. E o bem jurídico penal é o próprio Estado Democrático de Direito, o qual consta no preâmbulo da CF e nos artigos 1, caput, sendo o modelo, a forma institucional do Brasil.
Ademais, as normas constitucionais definem o sistema republicano, democrático e representativo no qual o voto é o meio pelo qual se ascende ao cargo político-eleitoral, não se admitindo a tomada violenta do poder.
O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, caracterizando o crime comum. O sujeito passivo é a sociedade e o Estado.
Quanto à tipicidade objetiva, trata-se de delito de forma livre de mera conduta. Incrimina-se a conduta de tentar depor governo legitimamente constituído, o que significa governo eleito democraticamente, conforme as regras constitucionais, e devidamente diplomado.
O delito somente ocorre se a tentativa de deposição utilizar violência ou grave ameaça.
Nota-se que a violência deve ser empregada na tentativa de deposição para que o delito se caracterize.
A grave ameaça deve ser à pessoa (havendo interpretação de que pode ser contra as instituições), o que pode ocorrer por palavra, por escrito, gestos ou outro meio simbólico de causar mal grave e injusto.
Consoante tipicidade subjetiva, incrimina-se a prática dolosa de usar violência ou grave ameaça para tentar depor um governo legitimamente constituído.
Este crime não admite forma tentada e se consuma com a tentativa de depor o governo legítimo mesmo que o governo se mantenha.
A pena, 4 a 12 anos e mais as penas das violências cometidas, como lesões corporais e outras práticas contra a pessoa, comporta regime fechado a depender o caso concreto. Admite-se prisão preventiva se houver requisitos e fundamentos do artigo 312 ( CPP) já que a hipótese no artigo 313, inciso I do CPP está presente. Não é cabível prisão temporária.
Não se admite a incidência de instrumentos de barganha como transação penal, suspensão condicional do processo ou acordo de não percepção penal. E a ação penal pública incondicionada, tramitando pelo rito ordinário.
Caberá ao Ministério Público Federal através dos seus órgãos, que, para tanto, tenham atribuição, investigar com a Polícia Federal e ajuizar ações penais contra os envolvidos, solicitando a devida condenação.
III – A COMPETÊNCIA PARA JULGAR MILITARES POR CRIMES POLÍTICOS
O fato deverá ser investigado perante o STF que está prevento para a análise dos atos que tentaram depor o atual governo. Os militares ali deverão ser investigados não cabendo falar na competência da Justiça Especializada Militar para tanto.
É certo que a doutrina, pela voz abalizada de Eugênio Pacelli (Curso de Processo Penal, 17ª edição, pág. 256), conclui que a Justiça Militar Federal julga tanto civis como militares. Mas a competência da Justiça Militar somente aprecia delitos militares, impondo-se a separação obrigatória dos processos em caso de concurso de crimes (comuns e militares), diante da absoluta especialização e especialidade dessa jurisdição.
Para Eugênio Pacelli é exatamente a motivação do agente que afastaria a aplicação do tipo penal previsto no CPM. Disse ele: “Para que se possa admitir um crime como de natureza militar, parece-nos indispensável, ou uma ação dirigida contra a instituição, ou uma ação praticada pelo militar, do mesmo modo que se exige, para os chamados crimes políticos a motivação política da conduta (Lei nº 7.170/83, artigo 2º). Ora, tampouco é suficiente a condição de militar, como, aliás, se ressaltou na decisão do Supremo Tribunal Federal”.
Há crimes propriamente militares e crimes impropriamente militares. Os propriamente militares dizem respeito à vida militar, vista globalmente na qualidade funcional do sujeito do delito, na materialidade especial da infração e na natureza peculiar do objeto da ofensa penal, como disciplina, a administração, o serviço ou a economia militar. Os crimes impropriamente militares, que podem ser cometidos por militares e ainda, excepcionalmente, por civis, abrangem os crimes definidos de modo diverso ou com igual definição na legislação penal comum. Sendo assim, crimes impropriamente militares são os que, comuns em sua natureza, podem ser praticados por qualquer cidadão, civil ou militar, mas que, quando praticados por militar em certas condições a lei considera militares, como se tem dos crimes de homicídio e lesão corporal, os crimes contra a honra, os crimes contra o patrimônio, os crimes de tráfico ou posse de entorpecentes, o peculato, a corrupção, os crimes de falsidade, dentre outros.
São ainda impropriamente militares, os crimes praticados por civis, que a lei define como militares, como a violência contra sentinela, previsto no artigo 158 do CPM.
Há crimes militares em tempo de paz (artigo 9º do CPM) e crimes militares em tempo de guerra (artigo 10 do CPM).
Extrai-se de decisões do Supremo Tribunal Federal (v.g. RC n. 1473-SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 18.12.2017), que “crimes políticos, para os fins do artigo 102, II, b, da Constituição Federal, são aqueles dirigidos, subjetiva e objetivamente, de modo imediato, contra o Estado como unidade orgânica das instituições políticas e sociais e, por conseguinte, definidos na Lei de Segurança Nacional, presentes as disposições gerais estabelecidas nos artigos 1º e 2º do mesmo diploma legal. 2. “Da conjugação dos arts. 1º e 2º da Lei nº 7.170/83, extraem-se dois requisitos, de ordem subjetiva e objetiva: i) motivação e objetivos políticos do agente, e ii) lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação ou ao Estado de Direito. Precedentes” ( RC 1472, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, Rev. Ministro Luiz Fux, unânime, j. 25/05/2016).
Ora, os chamados crimes militares não são crimes políticos.
Ensinou Nelson Hungria (Comentários ao Código Penal, 4ª edição, 1958, volume I, pág. 187) que os crimes políticos são aqueles dirigidos, subjetiva e objetivamente, de modo imediato, contra o Estado, como unidade orgânica das instituições político e sociais.
Na lição de Aníbal Bruno (Direito Penal, tomo II, 3ª edição, 1967, pág. 225) há os critérios objetivistas e subjetivistas.
O critério subjetivista toma em consideração o motivo. É o caráter político do móvel que atribui natureza política ao ato.
Para os objetivistas, será político todo crime que ofende ou ameaça direta ou indiretamente a ordem política vigente em um país.
Para o caso, leve-se em conta que os acontecimentos reportados no dia 8 de janeiro de 2023 não envolvem crimes militares. São crimes políticos.
Ainda na matéria, Aníbal Bruno trouxe à colação o artigo 8º do Código Penal Italiano: “É delito político todo delito que ofende um interesse político do Estado, ou um direito político do cidadão. Considera-se também delito político o delito comum determinado no todo ou em parte, por motivos políticos”.
Disse então Aníbal Bruno naquela obra:
“Tomado assim o conceito, tem-se procurado estabelecer entre os crimes políticos: crimes políticos próprios, os que ofendem a organização política do Estado; crimes políticos impróprios, os que acometem um direito político do cidadão. E, ainda, crimes políticos puros, os que têm exclusivamente caráter político e crimes políticos relativos, compreendo os complexos ou mistos, que ofendem ao mesmo tempo um direito político e um bem jurídico tutelado pelo Direito Penal comum, e os crimes políticos conexos a crimes políticos.”
Diverso é o crime taxado como crime social, em que o criminoso se rebela contra a organização econômico-social do mundo.
Como bem acentuou o site de notícias jurídicas Consultor Jurídico, em 27 de fevereiro de 2023, a Justiça Militar não julga crimes cometidos por militares, mas crimes militares. Assim, é de competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, independentemente de serem civis ou integrantes das Forças Armadas.
Com base nesse entendimento, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a Polícia Federal a abrir uma investigação “para apuração de autoria e materialidade de eventuais crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas e Polícias Militares relacionados aos atentados contra a Democracia que culminaram com os atos criminosos e terroristas do dia 8 de janeiro de 2023”.
A matéria é objeto de apreciação no Inq 4.923.
Disse, para tanto, o ministro Alexandre de Moraes:
“Em total e absoluta observância aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a presidência dos inquéritos que investigam os crimes previstos nos artigos 2º, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei 13.260/16, e nos artigos 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III, (perseguição), 163 (dano), art. 286 (incitação ao crime), art. 250, § 1 º, inciso I, alínea ”b”(incêndio majorado), 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), todos do Código Penal, não distingue servidores públicos civis ou militares, sejam das Forças Armadas, sejam dos Estados (policiais militares). Nos termos do art. 124, caput, da Constituição Federal, à Justiça Militar da União compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.”
……
Como ensinado por nosso sempre Decano, Ministro CELSO DE MELLO (HC 106171, SEGUNDA TURMA, 1º de março de 2011): “O foro especial da Justiça Militar da União não existe para os crimes dos militares, mas, sim, para os delitos militares, tout court. E o crime militar, comissível por agente militar ou, até mesmo, por civil, só existe quando o autor procede e atua nas circunstâncias taxativamente referidas pelo art. 9º do Código Penal Militar, que prevê a possibilidade jurídica de configuração de delito castrense eventualmente praticado por civil, mesmo em tempo de paz .
O Código Penal Militar não tutela a pessoa do militar, mas sim a dignidade da própria instituição das Forças Armadas competência ad institutionem, conforme pacificamente decidido por esta SUPREMA CORTE ao definir que a Justiça Militar não julga”CRIMES DE MILITARES”, mas sim”CRIMES MILITARES”( HC 118047, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 107146, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 22/6/2011; HC 100230, Rel. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 24/9/2010; CC 7120, Rel. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2002).”
Em conclusão assim se manifestou o ministro Moraes:
“Inexiste, portanto, competência da Justiça Militar da União para processar e julgar militares das Forças Armadas ou dos Estados pela prática dos crimes ocorridos em 8/1/2023, notadamente os crimes previstos nos arts. 2º, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei 13.260/16, e nos arts. 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III, (perseguição), 163 (dano), art. 286 (incitação ao crime), art. 250, § 1 º, inciso I, alínea ”b”(incêndio majorado), 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), todos do Código Penal, cujos inquéritos tramitam nesse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a pedido da Procuradoria Geral da República.”
Em face disso tem-se que a Justiça Militar não tem competência para instruir e julgar crimes políticos mesmo que cometidos por militares.
IV – FORÇAS ARMADAS NÃO SÃO PODER MODERADOR
O artigo 142 da Constituição Federal diz: “As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.”
Diga-se que a chamada teoria de que as Forças Armada detêm o chamado poder moderador é uma falácia.
Lembro que Alfred Stepan (Os militares na política: as mudanças de padrões na vida brasileira, pág. 1975) apontou que as Forças Armadas teriam desempenhado um papel moderador e atuado como árbitros dos conflitos entre os poderes no período de 1946-1964, tendo em vista as intervenções militares “cirúrgicas” nos momentos de graves crises nacionais ocorridos em 1954, 1955 e 1961. Nessa leitura, as Forças Armadas teriam exercido uma função de agentes estabilizadores da ordem, responsáveis por recompor a normalidade em situações de crise.
Na mesma linha, na Alemanha tinha-se a posição de Schmitt. Para ele, o estado de direito seria suspenso em momentos de crise, não havendo aí senão que o poder da força. Neste estado de exceção, as decisões seriam livremente tomadas pelo soberano, sem qualquer limitação das leis. Às Forças Armadas cumpriria o papel de atuar como fiel da balança do jogo político, dando respaldo às decisões do ditador até que restabelecida a normalidade institucional. O resto da história é conhecido. Milhões de seres humanos inocentes foram assassinados pela fúria bestial do regime nazista.
Ora, como poderiam as Forças Armadas, naquele triste momento da história brasileira, exercer o papel de árbitro, uma vez que defendia nítidos interesses em prol do capitalismo, do anticomunismo, e estava em aliança com as grandes elites econômicas?
As estreitas vinculações entre setores civis e militares, e especialmente entre elites jurídicas e militares, pavimentaram o caminho para a consolidação do regime ditatorial pós-1964, inclusive, levando em conta que as elites econômicas manifestaram seu apoio a edição do AI- 5, pelo governo militar, em expressivo registro daquele período histórico.
A garantia dos poderes constitucionais tornou-se a justificativa preferida pelas Forças Armadas para definir seu papel.
Em 1976, quando se vivia sob a ditadura militar, sob a égide da Emenda Constitucional nº 1/69, pensou-se em fixar o Poder Moderador.
Os militares já tinham essa ideia de exercê-lo, por via das Forças Armadas.
Tem-se no modelo ditatorial de 1967, com as mudanças outorgadas em 1969, que as Forças Armadas tinham o papel político e policial.
A Constituição de 1988 não admite um poder moderador.
“Concluímos pela inexistência do Poder Moderador atribuído às Forças Armadas, bem assim pela inconstitucionalidade da utilização do aparato militar para intervir no exercício independente dos Poderes da República”, afirma o parecer, assinado pelo então presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz.
O documento também é subscrito pelo presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da entidade, Marcus Vinicius Furtado Coêlho e por Gustavo Binenbojm, membro da comissão.
Para a OAB, a Constituição não confere às Forças Armadas a “atribuição de intervir nos conflitos entre os Poderes em suposta defesa dos valores constitucionais, mas demanda sua mais absoluta deferência perante toda a Constituição”.
“Não cabe às Forças Armadas agir de ofício, sem serem convocadas para esse fim. Também não comporta ao Chefe do Poder Executivo a primazia ou a exclusiva competência para realizar tal convocação. De modo expresso, a Constituição estabelece que a atuação das Forças Armadas na garantia da ordem interna está condicionada à iniciativa de qualquer dos poderes constituídos. A provocação dos poderes se faz necessária, e os chefes dos três poderes possuem igual envergadura constitucional para tanto”, destaca o parecer.
Destaco ainda daquela douta manifestação:
“Ao contrário, como muito bem exposto por Seabra Fagundes (As Fôrças Armadas na Constituição. RDA 9/1947, p. 1-29, jul./set., 1947. p. 12) com apoio no pensamento de Rui Barbosa, as Forças Armadas estão integradas e vinculadas ao comando do seu chefe supremo, o Presidente da República, que, por sua vez, tem o dever de respeito às leis e à própria Constituição. Essa cadeia de comando não abre nenhum espaço para se alçar as Forças Armadas de cumpridoras da lei à condição de intérpretes e fiadoras da própria legalidade.”
A garantia dos poderes constitucionais tornou-se a justificativa preferida pelas Forças Armadas para definir seu papel.
Esse entendimento levaria ao retorno das ideias de 1937 e dos Atos Institucionais que rasgaram a Constituição de 1946, no sentido de que as Forças Armadas seriam a garantia dos poderes institucionais tendo poder de intervir. Ora, isso não se amolda à Constituição-cidadã de 1988, que renega a ideia de que o poder civil é uma concessão do poder militar. Ficaria a sociedade entregue aos ditames militares, o que é uma afronta à democracia.
*É procurador da república aposentado com atuação no RN.
Este texto não representa necessariamente a mesma opinião do blog. Se não concorda faça um rebatendo que publicaremos como uma segunda opinião sobre o tema. Envie para o bruno.269@gmail.com.