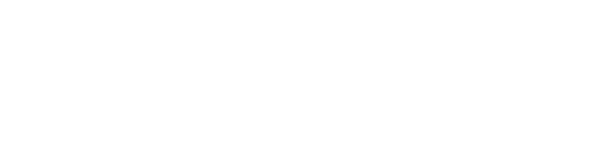Por Rogério Tadeu Romano *
I – O FATO
Trata o presente artigo de aspectos processuais envolvendo Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF, promovida pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos – ANAJURE contra o art. 6º do Decreto n. 31, de 20/03/2020, do Município de João Monlevade/MG, por entender que, no contexto da implementação de medidas de enfrentamento da pandemia de COVID-19, foi ferido o direito fundamental à liberdade religiosa e o princípio da laicidade estatal, ao ser determinada a suspensão irrestrita das atividades religiosas na cidade, bem como em face “dos DEMAIS DECRETOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS”, os quais teriam imposto violações equivalentes em todo o país.
Disse o relator naquela ocasião:
“Por prudência, ao menos neste momento processual, esta Suprema Corte deve prestigiar a instrumentalidade do processo, na medida em que o objeto desta ação diz com a proteção da liberdade de culto e religião, garantia constitucional. Além disso, é certo que, no Agravo Regimental no ADPF 696, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 30/11/2020, o Tribunal, ainda que implicitamente, aceitou a legitimidade da Associação Brasileira de Juristas Pela Democracia – ABJD. Assim, na existência de aparente divergência jurisprudencial, deve-se prestigiar a concreção do Acesso à Justiça, conforme art. 5º, XXXV, Constituição Federal: “(…) a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
II – A ADPF
Cabe lembrar que a arguição de preceito fundamental é remédio constitucional subsidiário que só deve ser ajuizado à falta de remédio inserido no direito processual comum. É instrumento próprio do processo constitucional na defesa de preceitos fundamentais.
Pode-se entender que a arguição de descumprimento de preceito fundamental brasileira, tal como posta no texto constitucional, tem raízes na Verfassungsbeschwerd, do direito alemão, que funciona como meio de queixa jurisdicional perante o Bundesverfassungericht, almejando a tutela de direitos fundamentais e de certas situações subjetivas lesadas por um ato da autoridade pública.
A discussão que trago à colação diz respeito ao que o artigo 1º da Lei 9.882/89 chama de ato do poder público.
Disse o ministro Alexandre de Moraes que deve-se ver os fundamentos e objetivos fundamentais da República de forma a consagrar maior efetividade às previsões constitucionais.
Na linha de Klaus Schlaich, Alexandre de Moraes observa que devem ser admitidas arguições de descumprimento de preceitos fundamentais contra atos abusivos do Executivo, Legislativo e Judiciário, desde que esgotadas as vias judiciais ordinárias, em face de seu caráter subsidiário.
Conforme entendimento iterativo do STF, meio eficaz de sanar a lesão é aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata, devendo o Tribunal sempre examinar eventual cabimento das demais ações de controle concentrado no contexto da ordem constitucional global.
O ministro Gilmar Ferreira Mendes (Jurisdição constitucional) anotou que: “A primeira vista, poderia parecer que somente na hipótese de absoluta inexistência de qualquer outro meio eficaz para afastar a eventual lesão poder-se-ia manifestar, de forma útil, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. É fácil ver que uma leitura excessivamente literal dessa disposição, que tenta introduzir entre nós o princípio da subsidiariedade vigente no direito alemão e no direito espanhol para, respectivamente, o recurso constitucional e o recurso de amparo, acabaria para retirar desse instituto qualquer significado prático.
Observou o ministro Alexandre de Moraes: “Note-se que, em face do art. 4º, caput, e § 1º da Lei nº 9.882/99 que autoriza a não admissão de arguição de preceito fundamental quando não for o caso ou quando houver outro meio eficaz de sanar a lesividade, foi concedida certa discricionariedade ao STF, na escolha das arguições que deverão ser processadas e julgadas, podendo, em face seu caráter subsidiário, deixar de conhece-la quando concluir pela inexistência de relevante interesse público, sob pena de tornar-se uma nova instância recursal para todos os julgados dos tribunais superiores.
Anotou ainda o ministro Gilmar Mendes (obra citada) que “dessa forma, entende-se que o STF poderá exercer um juízo de admissibilidade discricionário para a utilização desse importantíssimo instrumento de efetividade dos princípios e direitos fundamentais, levando em conta o interesse público e a ausência de outros mecanismos jurisdicionais efetivos.”
Para tanto, afirmou o ministro Gilmar Mendes que a ADPF “é típico instrumento do modelo concentrado de controle de constitucionalidade (Arguição de descumprimento de preceito fundamental: comentários à Lei 9.882, de 3.12.1999. 2. ed. São Paulo: Saraiva,2011. p. 170).
A legislação, no que tange à modalidade direta de ADPF, foi enfática ao prever, em seu art. 1º, que caberá ADPF em face de ato do Poder Público. Note-se, aqui, a extensão desse termo, que não se circunscreve apenas aos atos normativos do Poder Público. Portanto, e como primeira conclusão, a ADPF poderá servir para impugnar atos não normativos, como os atos administrativos e os atos concretos, desde que emanados do Poder Público. Trata-se, já aqui, de atos não impugnáveis por via da ação direta de inconstitucionalidade Como se sabe, a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente poderá ser utilizada, se se demonstrar que, por parte do interessado, houve o prévio exaurimento de outros mecanismos processuais, previstos em nosso ordenamento positivo, capazes de fazer cessar a situação de suposta lesividade ou de alegada potencialidade danosa resultante dos atos estatais questionados. Essa a conclusão de André Ramos (Repensando a ADPF no complexo modelo brasileiro de controle da constitucionalidade. In: CAMARGO, Marcelo Novelino (Org.). Leituras complementares de direito constitucional: controle de constitucionalidade. Salvador: JusPodivm, 2007. p. 57-72)
Daí a prudência com que o Supremo Tribunal Federal deve interpretar a regra inscrita no art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99, em ordem a permitir que a utilização de referida ação constitucional possa efetivamente prevenir ou reparar lesão a preceito fundamental causada por ato do Poder Público. Não é por outra razão que esta Suprema Corte vem entendendo que a invocação do princípio da subsidiariedade, para não conflitar com o caráter objetivo de que se reveste a arguição de descumprimento de preceito fundamental, supõe a impossibilidade de utilização, em cada caso, dos demais instrumentos de controle normativo abstrato.
Ressalte-se, contudo, que a mera possibilidade de utilização de outros meios processuais não basta, só por si, para justificar a invocação do princípio da subsidiariedade para o ajuizamento da ADPF, pois, para que esse postulado possa incidir, revela-se essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se capazes de neutralizar, de maneira eficaz, a situação de lesividade que se busca obstar com o ajuizamento desse writ constitucional (STF AgR-ADPF 17). A existência de processos ordinários e recursos extraordinários também não deve excluir, “a priori”, a utilização da ADPF, em virtude da feição marcadamente objetiva desta ação (STF ADPF 33).
O ministro Roberto Barroso disse que “o fato de existir ação subjetiva ou possibilidade recursal não basta para descaracterizar a admissibilidade da ADPF – já que a questão realmente importante será a capacidade do meio disponível sanar ou evitar a lesividade ao preceito fundamental. Por isso mesmo, se as ações subjetivas forem suficientes para esse fim, não caberá a ADPF” (O controle de constitucionalidade n direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 323).
A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem atribuído ao princípio da subsidiariedade esse específico significado (ADPF 390-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8 ago. 2017; ADPF 266-AgR, Rel.Min. Edson Fachin, DJe de 23 maio 2017; ADPF 237-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30 out. 2014, entre outros julgados), em que pese a orientação geral de que a subsidiariedade há de ser aferida em face da ordem constitucional global e tendo por consideração os meios aptos a solver a controvérsia de forma ampla geral e imediata (ADPF 33/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 27out. 2006).
O Ministro Gilmar Mendes (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, São Paulo, ed. Saraiva, 2009, 1ª edição, 2ª tiragem) dá exemplos de hipóteses de objeto e de parâmetros de controle:
a) direito pré-constitucional;
b) lei pré-constitucional e alteração de regra constitucional de competência legislativa (incompetência legislativa superveniente);
c) O controle direto da constitucionalidade do direito municipal em face da Constituição Federal;
d) Pedido de declaração de constitucionalidade (ação declaratória) do direito estadual ou municipal e arguição de descumprimento;
e) A lesão a preceito decorrente de mera interpretação judicial;
f) Contrariedade à Constituição decorrente de decisão judicial sem base legal (ou fundada em falsa base legal);
g) Omissão legislativa e controle da constitucionalidade no processo de controle abstrato de normas e na arguição de descumprimento de preceito fundamental(ADPF – 45, relator Ministro Celso de Melo, DJ de 4 de maio de 2004).
h) Norma revogada(ADPF 33, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgada em 7 de dezembro de 2005)
i) Medida Provisória rejeitada e relações jurídicas constituídas durante a sua vigência (ADPF 84 – AgRg, DJ de 7 de março de 2006).
j) O controle do ato regulamentar.
III – O ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Para ajuizá-la é mister ter legitimidade para tal.
Fala-se com relação ao direito de propositura das confederações sindicais e das entidades de classe de âmbito nacional.
O conceito de entidade de classe de âmbito nacional abarca um grupo amplo e diferenciado de associações que não podem ser distinguidos de maneira simples.
Em decisão de 5 de abril de 1989 tentou o STF precisar o conceito de entidade de classe, ao explicitar que é apenas a associação de pessoas que em essência representa o interesse comum de terminada categoria, como se lê da ADIn 79, relator min. Celso de Mello, DJ de 10 de setembro de 1989. Ali se disse: “não se pode considerar entidade de classe a sociedade formada meramente por pessoas físicas ou jurídicas que firmem sua assinatura em lista de adesão ou qualquer outro documento idôneo(….), ausente particularidade ou condição, objetiva ou subjetiva, que distingam sócios de não-associados”, como se lê ainda da ADIn 52, relator ministro Célio Borja, Dj de 19 de setembro de 1990, pág. 9.721.
Sendo assim conforme aquela já mencionada ADIn 79, relator ministro Celso de Mello, DJ de 10 de setembro de 1989, a ideia de um interesse essencial de diferentes categorias fornece base para a distinção entre a organização de classe, nos termos do artigo 103, IX, da Constituição, e outras Associações ou Organizações Sociais. Dessa forma, deixou claro o Supremo Tribunal Federal que a Constituição decidiu por uma legitimação limitada, não permitindo que se convertesse o direito de propositura dessas, organizações de classe em autêntica ação popular.
Por sua vez, em orientação firmada na ADIn 108, relator ministro Celso de Mello, DJ de 5 de junho de 1992, pág. 8.426, entendeu-se que não configura entidade de classe de âmbito nacional, para os efeitos do artigo 103, IX, organização formada por associados pertencentes a categorias diversas. Assim “não se configuram como entidades de classe aquelas instituições que são integradas por membros vinculados a extratos sociais, profissionais ou econômicos diversificados, cujos objetivos, individualmente considerados, revelam-se contrastantes.
Afirmou-se, na ADIn 61, relator ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28 de setembro de 1990, pág. 10.222, que “não constitui entidade de classe, para legitimar-se à ação direta de inconstitucionalidade(CF, artigo 103, IX), associação civil, voltada à finalidade altruísta de promoção a defesa de aspirações cívicas de toda a cidadania”.
Quanto ao caráter nacional da entidade, enfatiza-se que não basta simples declaração formal ou manifestação de intenção constante de seus atos constitutivos. Faz-se mister que, além de uma atuação transregional, tenha a entidade membros em pelo menos nove Estados da Federação, número que resulta de aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, como se ê da ADIn 386, relator ministro Sydney Sanches, DJ de 28 de junho de 1991, pág. 8.904 e ainda ADIn 108, relator ministro Celso de Mello, DJ de 5 de junho de 1992, pág. 8.427.
Em sendo assim, o Supremo Tribunal Federal recusou legitimidade para instauração de ações de controle concentrado a entidades constituídas a partir de elementos associativos pertinentes a determinados valores, práticas ou atividades de interesse social, tais como cidadania, moralidade, desporto e prática religiosa”, escreveu Moraes ao rejeitar o recurso da Anajure.
Menciona-se ainda que segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, há de se exigir que o objeto da ação de inconstitucionalidade guarde relação de pertinência com a atividade de representação da confederação ou da entidade de classe de âmbito nacional.
Pois bem em uma manifestação sobre a temática da abertura dos tempos em razão do princípio da liberdade religiosa, pontuou na manifestação, que há o entendimento no STF de que uma entidade de classe, para fins de legitimidade para a instauração de ação de inconstitucionalidade, deve ser composta por categoria homogênea. Além disso, a associação não comprovou atuação no âmbito nacional, sendo que é necessário que uma associação comprove ter membros ou associações em ao menos nove estados para ter caráter nacional. A AGU ainda traz que recentemente o próprio Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Alexandre de Moraes, entendeu que a associação não possuía legitimidade em uma outra ADPF, em fevereiro deste ano, no julgamento do Agravo Regimental na ADPF 703/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 17/02/2021.
Ali foi dito:
“1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a representatividade de categoria empresarial ou profissional.2. Sob esse enfoque, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos –ANAJURE carece de legitimidade para a propositura da presente arguição, na medida em que congrega associados vinculados por convicções e práticas intelectuais e religiosas. Precedentes.3. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE.4. A possibilidade de impugnação de ato normativo municipal perante o Tribunal de Justiça local, em sede concentrada, tendo-se por parâmetro de controle dispositivo da Constituição estadual, ou mesmo da Constituição Federal, desde que se trate de norma de reprodução obrigatória, caracteriza meio eficaz para sanar a lesividade apontada pela parte, de mesmo alcance e celeridade que a arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em razão do que se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art.4º, § 1º, da Lei 9.882/1999). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
Observo que o Supremo Tribunal Federal já recusou legitimidade para instauração de ações de controle concentrado a entidades constituídas a partir de elementos associativos pertinentes a determinados valores, práticas ou atividades de interesse social, tais como cidadania, moralidade, desporto e prática religiosa. Nesse sentido, diversos precedentes: ADPF 406 AgR, Pleno, relatora ministra Rosa Weber, DJe de 7/2/2017; ADI 4.770 AgR, Pleno, Relator ministro Teori Zavascki, DJe de 25/2/2015; e decisões monocráticas na ADI 5666, ministro Celso de Mello, DJe de6/4/2017; ADPF 278, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/2/2015; e ADI 4.892, Rel. Min. Gilmar Mendes,, DJe de 21/8/2013.
Tem-se ainda:
“O Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil – CIMEB –, a despeito de demonstrar formalmente em seu estatuto o caráter nacional da entidade, não se afigura como categoria profissional ou econômica, razão pela qual não possui legitimidade ativa para a propositura da ação direta deinconstitucionalidade.3. Nego provimento ao agravo regimental. ́(ADI 4294-AgR, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2016, DJe de 5/9/2016)”.
Dessa maneira, constata-se que a requerente não detém legitimidade para o ajuizamento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, a qual não deve ser conhecida”, ressalta, dizendo ainda que uma ADPF não é a via mais adequada para análise da suposta inconstitucionalidade dos decretos estaduais e municipais, visto que não há na Constituição Federal uma referência a medidas restritivas para proteção da saúde pública.
Não teria, pois, a entidade referenciada legitimidade para ajuizamento do remédio constitucional suscitado e ainda faltaria a ela interesse de agir, pois exige-se a comprovação da observância ao princípio da subsidiariedade.
IV – A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
Ademais, o cabimento da ADPF será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito (ADPF186/DF, relator ministro Ricardo Lewandowski, DJe de20/10/2014).
Trago entendimento do ministro Celso de Mello:
da “A possibilidade de instauração, no âmbito do Estado-membro, de processo objetivo de fiscalização normativa abstrata de leis municipais contestadas em face da Constituição Estadual (CF, art. 125, § 2º) torna inadmissível, por efeito da incidência do princípio da subsidiariedade (Lei 9.882/99, art. 4º,§ 1º), o acesso imediato à arguição de descumprimento de preceito fundamental. É que, nesse processo de controle abstrato de normas locais, permite-se ao Tribunal de Justiça estadual a concessão, até mesmo in limine, de provimento cautelar neutralizador da suposta lesividade do diploma legislativo impugnado, a evidenciar a existência, no plano local, de instrumento processual de caráter objetivo apto a sanar, de modo pronto e eficaz, a situação de lesividade, atual ou potencial, alegadamente provocada por leis ou atos normativos editados pelo Município.”(ADPF-MC 100/TO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática, DJe de 17/12/2008).
Na matéria disse a ministra Rosa Weber:
“Ante o desenvolvido, e considerada a existência de outros meios processuais adequados para, na dimensão em tese, impugnar os atos normativos identificados na inicial, deforma exemplificativa, e solucionar de forma imediata, eficaz e local a controvérsia constitucional apontada, o conhecimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não passa no parâmetro normativo-decisório construído por esse Supremo Tribunal Federal, por meio de seus precedentes judiciais, quanto ao sentido atribuído ao requisito da subsidiariedade”.(ADPF 666/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, decisão monocrática, DJe de 16/04/2020).
Entendo que há outros instrumentos processuais hábeis para a discussão da matéria, à luz da exigência do que se traduz o princípio da subsidiariedade.
V – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A AGU considerou que A Associação de Juristas Evangélicos não tem legitimidade para recorrer a ADPF. A AGU Apontou, vou transcrever: “a) a ilegitimidade ativa da ANAJURE; b) inobservância do princípio da subsidiariedade; c) ausência de indicação dos atos. Tal atuação se dá como curador da norma, papel esse a ser desempenhado pela Advocacia Geral da União nessas ações de controle concentrado. Não poderia, pois, mudar seu posicionamento, talvez em razão de interesses ideológicos. O seu papel se dá no âmbito estritamente jurídico. A AGU serve ao Estado brasileiro e não a governos e a ideologias.
Em sendo assim entendo que o Plenário do STF deve revogar a liminar concedida pelo ministro Kássio Nunes Marques, extinguindo o feito por carência de ação, por ilegitimidade da entidade que a propôs e ainda por inadequação da via eleita, falta de interesse de agir.
Discute-se, por fim, se há prevenção do ministro Nunes Marques, em face da relatoria na ADPF 701/MG, em face de outra ação de descumprimento de preceito fundamental, cujo relator é o ministro Gilmar Mendes. Ora, a prevenção não pode ser exercida a partir de ação extinta sem resolução do mérito, sob pena de causar “efeito devastador e deletério” na tramitação de ações perante o STF. Sendo assim há reunião de todas as ADPF que vierem a ser julgadas sobre o tema(liberdade religiosa x medidas restritivas em prol da saúde), devendo todas elas serem distribuídas para o ministro Gilmar Mendes, prevento para tai julgamentos.
Não há prevenção ou dependência com a ADPF701/MG, de relatoria do ministro Nunes Marques.
*É procurador da República com atuação no RN aposentado.
Este artigo não representa necessariamente a mesma opinião do blog. Se não concorda faça um rebatendo que publicaremos como uma segunda opinião sobre o tema.