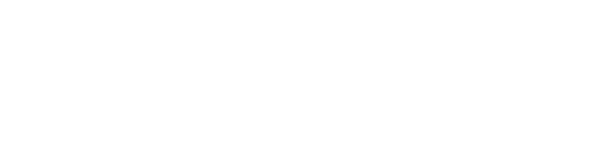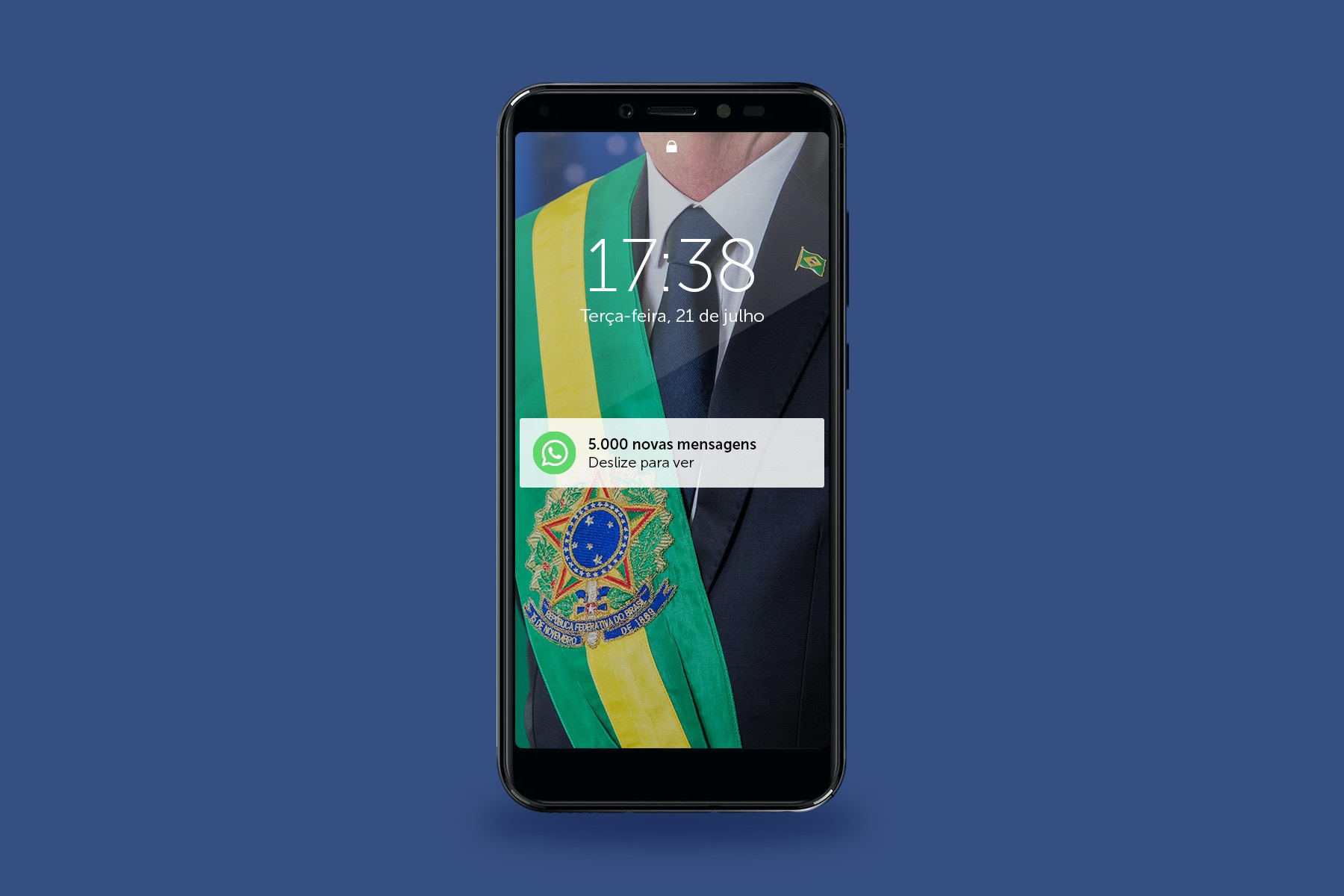Por Luiz Pimentel e Luiz Gallo
Poder 360
e você pesquisar por utilização de fake news, cortinas de fumaça e propaganda (não confundir com publicidade) enganosa na política, chegará a um roteiro que tem como protagonistas o Brexit e as eleições de Boris Johnson na Inglaterra, Donald Trump, nos Estados Unidos, e Jair Bolsonaro, no Brasil.
Tudo isso em curto período de 2016 ao início de 2020. Mas a pandemia do novo coronavírus teve um efeito colateral devastador na forma como a política vinha sendo conduzida digitalmente.
Todos os mecanismos e robôs utilizados para fomento do extremismo (basicamente de direita) foram nocauteados sem dó pela covid-19. A informação crível passou a ser exigência global e escanteou a sabotagem.
A referência para essas táticas recebera alcunha de firehosing, em alusão às mangueiras de incêndio e seu potencial de espalhar água contra fogo.
No caso, o objetivo era de espalhar gasolina no fogo. Ironicamente, os principais incentivadores das práticas eram os que chamavam de fake news informações que os contradissessem. Algo como um fulano que grita “Fogo” dentro de sala de teatro com isqueiro em uma mão e galão de combustível na outra.
Mas o tsunami da covid-19 invadiu não apenas a vida real da população global como penetrou silenciosamente nos meios digitais sem que os maiores interessados percebessem.
A consequência imediata no nosso caso é um cenário que isolou os polos políticos e questiona o que o populismo de direita no poder fará para nos proteger, além de desmerecer doença, autoridades científicas e adversários.
O primeiro reflexo disso é notado justamente na mudança brutal em como o personagem mediano se relaciona com seus respectivos governantes.
A necessidade e urgência do cidadão comum, que não trafega por nenhum dos polos extremos do debate, fez com que ele invadisse a rede em busca de informações e orientações úteis e precisas.
Como o protocolo de condução do combate à covid foi polarizado entre um extremo que era contrário ao isolamento social e outro, favorável, o debate foi politizado e passou a exigir a tomada de um dos lados.
Capitaneada por Jair Bolsonaro, a ala radical de direita adotou o negacionismo científico e o desdém como argumentos. Só que esse rugir nas redes sociais foi encoberto pela multidão politicamente nova que entrou no debate e a tática de ataques e descréditos perderam força na exigência de respostas assertivas e não de desmerecimento de quem pensava diferente.
A argumentação acima é sustentada por números obtidos junto à comunicação de governos e prefeituras de localidades posicionadas em todos os pilares do espectro político –o PSL em Santa Catarina, o PSDB em Mato Grosso do Sul e o PDT em São Luís, no Maranhão.
CENTRO, NORDESTE E SUL
Mato Grosso do Sul é um Estado tão novo quanto historicamente conservador. Em 2018, o segundo turno foi disputado por dois apoiadores de Jair Bolsonaro, o governador Reinaldo Azambuja e o juiz Odilon de Oliveira, conhecido nacionalmente pelo combate ao tráfico de drogas. O PT sequer teve candidatura.
O agropecuarista Reinaldo Azambuja (PSDB) foi reeleito governador do Estado que completava 41 anos munido de um vídeo de apoio de Bolsonaro como bala de prata e o apoio do PSL como munição extra caso fosse preciso.
Outro Estado onde o conservadorismo passou a régua nas eleições de 2018 foi Santa Catarina. Para governador, o bombeiro militar Carlos Moisés da Silva, apelidado Comandante Moisés, sentou-se à cadeira amparado por mais de 70% dos votos no segundo turno em seu primeiro ano como político. Caminhou na mesma esteira de partido, o PSL, e perfil de Jair Bolsonaro.
Os territórios no Centro-Oeste e Sul tornaram-se, assim, um certo parque de diversões para redes sociais vertidas em palanques políticos, com camarote cativo para o conservadorismo principalmente da direita mais extrema.
Só que o alastramento mundial da covid-19, transformado em pandemia, mudou rapidamente o cenário do tabuleiro desse jogo estratégico.
Mato Grosso do Sul viu o engajamento de suas publicações aumentar em 564% apenas em março, quando conseguiu, em suas redes sociais, se comunicar com, aproximadamente, 28% da população do Estado, marca inédita até então.
O crescimento da presença do governo de Santa Catarina nas plataformas quase decuplicou –aumentou 911%. As páginas oficiais no Instagram, Facebook e YouTube cresceram 176%, 56% e 671%, respectivamente.
Já a Prefeitura de São Luís, administrada pelo PDT, também registou um crescimento significativo de fãs e seguidores no período. No Facebook e Twitter, houve crescimento quatro vezes maior do que no mês de fevereiro. No Instagram, o crescimento de seguidores triplicou em comparação ao mês anterior.
É possível creditar o crescimento à entrada em cena do cidadão do meio pelo próprio histórico das propriedades e pelo racha evidenciado.
“Nossos resultados estão sendo fora da curva. Tivemos explosão de acessos no Instagram e Twitter e reversão de queda no Facebook. As pessoas estão dialogando e buscando apoio nas nossas redes e comentários de desconstrução não sobressaem mais”, afirma o coordenador de redes sociais de São Luís, Fernando Alves.
Se a esquerda não conseguia se armar para defender posição à altura no embate pré-covid, a direita levou o pêndulo tão ao extremo que transformou todo o cinza entre os polos em oposição, quando esta se viu obrigada a descer do muro.
A crise fez o centro aparecer nas estatísticas orgânica e massivamente.
MORO, O PINO DA GRANADA
A batalha das redes ficou explícita quando aconteceu a demissão de Sergio Moro do cargo de ministro da Justiça.
A empresa de consultoria e pesquisa Quaest criou um ranking de monitoramento das redes sociais em janeiro de 2019, quando Jair Bolsonaro tomou posse na presidência.
A partir daí, ele sempre liderou com folga o ranking de popularidade, que compila dados de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Google e Wikipedia.
Na véspera da demissão de Moro, principiou certo fenômeno no horizonte das análises. A popularidade do ex-juiz começou a subir, pois surgiram os primeiros boatos de que sairia do governo por descontentamento com ingerência sobre sua pasta.
Na sexta-feira (24 de abril), quando em entrevista coletiva às 11h anunciou a saída, pelas duas horas seguintes a popularidade de Moro, que vinha em baixos 30,7 pontos de 100 possíveis, cresceu até atingir 52,1.
Já a de Bolsonaro caiu de 82,9 para 75,8. A diferença entre os dois baixou de 52,2 pontos para 23,7.
A tendência continuou no dia seguinte, sábado, quando Moro foi a 55,3 e Bolsonaro desceu a 70,3, colocando ambos em primeiro e segundo lugares com 15 pontos a separá-los.
Só que o reflexo no número de seguidores nas redes acende um sinal amarelo para as práticas adotadas pelos políticos, seus times e admiradores ou haters.
Imediatamente à demissão de Moro, Bolsonaro perdeu mais de 55 mil seguidores no Instagram e quase 14 mil no Facebook, enquanto o número de seguidores no Twitter aumentou em quase 20 mil, sem muita lógica.
Já Sergio Moro teve um ganho só no Instagram de quase 200 mil seguidores.
Um outro levantamento sobre a sexta-feira fatídica, feito pela FGV/DAPP, aponta que o debate entre os dois, que teve pronunciamento-resposta do presidente às 17h do mesmo dia, mexeu com 70% dos perfis do Twitter previamente engajados em discussão política.
Na região ocupada pela extrema-direita, o gráfico mostra claramente que esta ficou bastante dividida entre os que apoiavam o ex-juiz e os que o criticavam pela saída.
Nas duas horas seguintes ao pronunciamento de Moro, as hashtags #BolsonaroTraidor e #ForaBolsonaro dispararam em primeiro e segundo lugares nos trending topics.
Uma terceira hashtag oposta começou a crescer depois disso e foi estimulada em tuíte do filho 03 do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro.
A ferramenta Bot Sentinel, verificadora de fraudes e uso de robôs, apontou, no entanto, que “trollbots are tweeting” (robôs estão tuitando, basicamente) a hashtag para que ganhasse espaço entre os assuntos mais comentados e ficasse em destaque.
Na segunda-feira posterior, os indícios de utilização de robôs ganharam mais força quando começou a subir entre os assuntos mais comentados uma hashtag com erro de grafia, que citava o nome do presidente como Bolsonaro, com um “L” a mais.
A suspeita ganha força porque é difícil imaginar um enorme número de pessoas, em contingente necessário para que uma hashtag suba nos trending topics, cometendo exatamente o mesmo erro de grafia.
É importante apontar que essas análises se baseiam fundamentalmente no Twitter por razões que veremos ao longo deste texto.
“A movimentação dos trending topics (ranking de assuntos mais comentados do Twitter) deixou o cenário muito claro. Antes, havia um certo monopólio (conservador)“.
“Desde que começou a pandemia, quando sobe uma hashtag (conservadora), logo sobe também uma contra-hashtag (oposta)”, diz Pedro Barreto, digital intelligence da Vert, empresa de Transformação Digital.
TWITTER É O FÍGADO DO DEBATE
Dado que o núcleo duro bolsonarista se reflete em pesquisas de apoio realizadas no período, como a que apurou a aprovação do presidente na demissão do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, uma semana prévia à de Moro, a posição dessa ala de extrema-direita tangencia os 25% do eleitorado hoje.
A consultoria Atlas Político, em diferente pesquisa, apontou que 76% das pessoas concordavam com o isolamento social. Como são componentes heterogêneos e formam um total de 100% quase redondos, é possível cravar que a ala fechada com o presidente pariu no primeiro mês de crise da covid-19 no país uma oposição de 75%, com maior ou menor força de atuação e participação política.
Só que não ficou por aí.
O tom da participação do público no debate politizado sobre o novo coronavírus diminuiu significativamente os decibéis do rugir extremado.
A análise de emoções das redes sociais (sim, isso existe, é quantificado e levado bem a sério nas estratégias políticas) tem como elemento principal os comentários.
A explicação lógica é, grosso modo, se você ficou enraivecido com um serviço mal entregue, um atendimento ruim ou situação que os valha, você criará conteúdo de ataque, e isso é feito em geral na redação de comentários ou em postagens no Twitter.
Já se você ficou surpreendentemente satisfeito com algo ou se quer agradar com facilidade alguém, dá um like (curtida) em outra rede e pronto.
Digamos que comentários nas redes diversas e tuítes sejam digitados preferencialmente com o fígado.
Nas redes e propriedades governamentais, um público novo e gigantesco se formou em um terceiro viés. Pessoas com posições de “neutralidade emocional” assumiram protagonismo em forma de comentários, em proporção que lhes conferiu a liderança com 70% dos comentários no governo de Mato Grosso do Sul em tom questionador, buscando informações críveis e que os direcionasse.
A grande novidade foi que tudo isso aconteceu organicamente, pois a pandemia pegou a todos de calças curtas. Não havia tempo para se desenhar estratégia de combate, mesmo que no fogo contra fogo.
“Perdeu força a velha política de construir na desconstrução. Aquela política de falar mal de mim para você e depois falar mal de você para mim se dissipou. As pessoas começaram a considerar: ‘O cara (Bolsonaro) está louco. Vamos ver para onde aponta o caminho oposto’.”, diz Oscar Diego De La Rubia, diretor de marketing do governo do Estado de Mato Grosso do Sul.
A curva em U ficou escancarada quando o secretário de Saúde do MS, Geraldo Resende, sugeriu em entrevista que aqueles que defendem o final do isolamento social no Estado deveriam assinar um documento abrindo mão de respiradores caso caíssem em estado grave e necessidade de cuidados intensivos pela covid-19.
“Quando fomos ver a reação, os que defendiam o isolamento e as ordens científicas estavam apoiando a manifestação do secretário, para desespero dos negacionistas”, diz Oscar Diego De la Rubia.
O caso ilustra como o lado extremo direito foi atingido em um de seus pontos fracos: a soberba, mimada e alimentada pelas vitórias sucessivas no discurso de narrativa das redes que teve o ápice na eleição presidencial de 2018.
Essa soberba ou uma certa miopia os impediu de enxergar que não só o tabuleiro de disputa estava ganhando reforços de peças contrárias em quantidade massiva, mas que o esporte tinha mudado.
PODER ESCOOU PARA GOVERNADORES
Se antes a pauta era unicamente política e permitia certa ou grande volubilidade na adoção ou troca de camisas dos times, desta vez o que foi colocado na mesa era um jogo de (aparentemente) vida ou morte.
“No nosso termômetro (de monitoramento) percebemos que a extrema-direita e o governo se retraíram (na comunicação pelas redes). Viram a cagada de subestimar o corona e estão tentando jogar responsabilidade nas costas de governadores e prefeitos. Só que é voo de galinha. Ninguém acredita mais ou aguenta essas táticas”, diz Roberto Marques, sócio da empresa digital Social Qi, que tem o governo de São Paulo entre os clientes.
Os tópicos do ser ou não ser deixaram de conduzir a elucubrações do tipo: “Bom, esse jogador pode defender posições de caráter no mínimo duvidoso, mas se eu me der bem financeiramente, vai valer a pena ficar do lado dele”. E passaram a ser: “Em quem eu confio minha saúde e da minha família sobre um vírus potencialmente letal: comunidade médica ou negacionistas científicos?”.
Quando o presidente disparou que a reação da população em se trancar dentro de suas casas era exagerada por conta de uma “gripezinha”, somente 12% das pessoas em pesquisa Datafolha se posicionaram em concordância com o “exagero da medida de isolamento social”.
“Os componentes da nossa cultura pesaram. O indígena: quando tem uma doença, eles vazam para o meio do mato porque sabem que o contágio é devastador. A nossa herança negra registra que é preciso trabalhar —mas exige segurança. Está criando mecanismos para se cuidar”, disse o ex-ministro Mandetta em entrevista à jornalista Mônica Bergamo depois de ser demitido.
A desatenção com a forma como a covid-19 era tratada pelos políticos não contaminou os governadores. No dia seguinte ao fatídico pronunciamento da “gripezinha” e “histórico de atleta” à nação, noite de 24 de março, 26 dos 27 governadores se uniram em videoconferência com o presidente demandando série de atitudes, o que foi encarado como traição, principalmente dos ex-aliados políticos Wilson Witzel (RJ) e João Doria (SP). Só não participou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (PMDB).
Se os representantes dos 26 Estados se posicionaram junto à maioria da população por princípios morais ou por motivação política, é indiferente para o resultado final, que apontou que a avaliação deles saltou de 26% para 44% de ótimos/bons e caiu de 27% para 15% de ruins/péssimos. Um belo rendimento de capital político para um mês.
Com os índices de aprovação da população em queda, o governo iniciou nova manobra na direção de cooptar, pelo menos, os políticos do chamado Centrão, na tal busca pelo grupo do meio, que se fez presente logo que eclodiu a crise.
Mas o que interessa para a análise da queda do extremismo na estratégia política digital é entender como cada ferramenta é utilizada e sua respectiva capacidade bélica.
PREFERÊNCIAS NACIONAIS
A rede social preferida entre os brasileiros é o YouTube, que tem penetração de 95% entre os internautas no país.
Foi por lá também que a direita conseguiu propagar ideologia de forma mais bem-sucedida. Desde as eleições, dos 10 canais que mais cresceram no Brasil na plataforma, 6 são conservadores. Já a esquerda só emplacou um canal entre os 100 que mais cresceram.
Apesar de ser um monstro de audiência, o Facebook, que atinge 130 milhões de brasileiros, não tem perfil adequado para servir como plataforma de manutenção de ânimo político.
Como falamos anteriormente, quem produz conteúdo com viés político (em forma de posts ou comentários) o faz ou por extrema necessidade ou de modo figadal.
A rede de Mark Zuckerberg se tornou meio que a casa da avó, blindada contra palavrões e manifestações agressivas por estar cercada de álbuns de família, fotos dos netinhos e vídeos fofos.
Com 89% de penetração entre os brasileiros, o Whatsapp guarda a terceira posição no país. Politicamente, ele complementa o YouTube na disseminação ideológica na rede. E vai além.
Enquanto o YouTube é repositório de conteúdo público, o que desencoraja a maioria das manifestações raivosas e, principalmente, falsas (as tais fake news), a privacidade do Whatsapp encoraja a prática.
Principalmente porque você está se relacionando dentro de uma bolha de iguais na ferramenta de comunicação de propriedade do Facebook. O primeiro perigo disso é justamente a bolha, que acaba legitimando qualquer conteúdo.
O ex-presidente dos EUA Barack Obama exemplificou bem o perigo de persuasão das bolhas formadas em torno de um conteúdo ao dizer que depois de assistir algumas vezes ao canal Fox News estava quase convencido de que se concorresse ao cargo novamente nem ele votaria em si próprio.
O segundo perigo que acomete o Whatsapp (mas também a nave-mãe, o Facebook) é a permissão em impulsionar conteúdos para que cheguem ao maior número de pessoas possível sem checagem da veracidade dos mesmos.
Daí o auê sobre a reportagem de Patricia Campos Mello, na Folha de S.Paulo, na reta final da eleição presidencial, em que ela revelou a rede de robôs contratados para impulsionamento de propaganda bolsonarista em pacotes de até R$ 12 milhões.
Quando o tema virou pauta da CPI das Fake News, a própria repórter virou alvo principal da chamada milícia digital responsável pelo bombardeio nas eleições.
O terceiro perigo do WhatsApp foi revelado por um estudo da universidade norte-americana NorthWestern.
No mapeamento de cientistas digitais da universidade, os grupos de direita brasileiros apareciam em número muito superior aos de esquerda, além de serem bem mais pulverizados pelo país e, especialmente, produzirem e espalharem muito mais conteúdo do que a oposição, na base de 46,55% versus 30,09%.
Foram acompanhadas pouco mais de 2,8 milhões de mensagens na reta final das eleições, de 1° de setembro a 1° de novembro de 2018.
Nesse caso, a progressão de vantagem cresce exponencialmente, já que além de espalharem mais propaganda, compõem exército mais numeroso.
Quando chegamos à rede preferida dos políticos, o Twitter, que ocupa um modesto 6º lugar na preferência de 27,7 milhões de brasileiros perfilados por lá, o jogo já se encontra em vantagem avançada. Ou encontrava-se, antes de a covid-19 sacudir esse globo de neve e não sabermos como as peças vão se posicionar exatamente após o final da pandemia.
É bom contextualizar que o cenário está devidamente paramentado para os extremos no Twitter dada a personalidade da rede. É por lá que as pessoas descarregam as tensões.
Isso converte a plataforma em terreno de maior engajamento para discursos destrutivos, como foi o trampolim que conduziu a extrema-direita ao poder.
A “personalidade” da rede foi captada por estudo conduzido pela antropóloga e programadora da Unicamp Adriana Dias que, ao monitorar o Twitter durante 15 períodos de 24 horas cada intervalados, chegou à média de uma manifestação de ódio a cada 8 segundos na rede no Brasil.
Isso funcionou igualmente a favor de extremistas até a covid-19 começar a fazer as primeiras vítimas no país.
No final de março, o Twitter deu um basta e apagou dois tuítes do presidente da República, de passeios por Brasília onde causava aglomerações.
Em nota, a rede social justificava que baniria “conteúdos que iam contra informações de saúde pública orientadas por fontes oficiais”.
Foi a segunda vez que um governante teve conteúdo apagado no Twitter. O primeiro fora o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ironicamente inimigo profundo do seu par brasileiro, a quem apelidou recentemente de “coronalouco”.
Facebook e Instagram não ficaram atrás e apagaram igualmente conteúdo da presidência.
A lição que sobrou é que ódio não é opinião e seu ferrete marca o que é convencionalmente entendido como a antiga forma de se fazer política.
Em curto prazo, a técnica é até eficiente, mas em médio e longo termos ela desmorona pela própria escassez de alvos e pela terceirização de responsabilidades.
“Antigamente, falar do Bolsonaro te fazia perder caminhões de pessoas nas redes sociais. Hoje, eu critico no Twitter e o povo tá junto, cara. Você sente que tem muita gente arrependida, muita gente acordou”, afirmou o comediante e influenciador Rafinha Bastos em live realizada no final de abril.
CAMBRIDGE ANALYTICA, A MÃE DO FIREHOSING
Muito mais eficiente é a mãe de toda tática política na utilização das redes sociais. Ela nasceu associada à manipulação de resultados no referendo da permanência ou não do Reino Unido na União Europeia, o Brexit, em 2016. E foi seguida pela eleição de Donald Trump à presidência norte-americana no mesmo ano.
Quem desvendou as ferramentas de inteligência artificial vitaminadas por hacking foi a repórter do jornal britânico “The Observer”, Carole Cadwalladr, em 2017.
Nascida no País de Gales, ela foi destacada pelo jornal para cobrir uma pacata cidade no país, Ebbw Valle, onde a votação para saída do Reino Unido da União Europeia recebeu um dos índices mais altos, com 62% da população favorável à medida de abandono.
A repórter conhecia a cidade como uma tranquila região que dependia de minas de carvão, com população composta pelo chamado “working class”, inclinada à esquerda no espectro político. A votação pela saída tinha característica direitista, o que não fazia sentido no resultado final.
Cadwalladr chegou à cidade e diz ter visto diversas melhoras em instituições de ensino e de esportes bancadas pela União Europeia. Ao falar com pessoas na rua, ouvia o contrário, de que “a UE não faz nada por nós e precisamos de autonomia”.
Outro discurso corrente era relacionado ao medo de invasão de imigrantes e refugiados, sendo que Ebbw Valle nunca havia sido um polo de atração ou abrigo de nenhum dos dois.
Em suas andanças, ela diz ter encontrado somente um estrangeiro na cidade, uma polonesa. No levantamento do índice de imigrantes, a cidade é uma das que menos os recebem em todo País de Gales.
O artigo foi publicado e logo em seguida ela recebeu telefonema de uma moradora de Ebbw Valle, a dizer que faltou contar tudo aquilo que moradores da cidade recebiam pelo Facebook sobre ameaças, principalmente de desembarque em massa de turcos, sendo que o país nem faz parte da União Europeia.
Ela passou a investigar o modus operandi da propaganda pela rede social para desvendar como tinha sido tão eficiente neste caso, enquanto do outro lado do oceano Donald Trump era eleito presidente norte-americano usando métodos parecidos após o vazamento de informações de 50 milhões de perfis de norte-americanos no Facebook. A mesma empresa conectava os dois casos, a Cambridge Analytica.
Levou um ano para que a repórter conseguisse que um funcionário envolvido no esquema falasse abertamente sobre o caso. Ela e o jornal foram ameaçados tanto pela Cambridge Analytica quanto pela rede social, mas publicaram o material mesmo assim e abriram os portões do inferno sobre o que acontecia nos bastidores de propagandas políticas no Facebook.
Já com o relato da diretora de desenvolvimento de negócios da Cambridge à época, Brittany Kaiser, foi descoberto o vazamento de informações durante o período eleitoral nos EUA.
Milhões de pessoas tiveram seus dados na rede expostos e captados pela empresa, que os dividiu em cinco tipos de perfil diferentes para que mensagens de cooptação ameaçadoras influenciassem em seus votos.
Como a eleição no país é optativa, chegaram a um perfil de eleitor, por exemplo, que não votaria em Trump nem por decreto, e enviavam propaganda desestimulando-o a ir votar, para diminuir a chance de votos na rival Hillary Clinton.
Brittany exemplifica o sistema da empresa com o primeiro recado que esta passava durante as apresentações para potenciais contratantes.
O presidente da companhia, Alexander Nix, mostrava duas praias que exibiam duas placas. A primeira placa assinalava “Praia Particular”. Já a segunda, trazia: “Perigo de ataques de tubarão”. E completava perguntando ao ouvinte qual ele achava que era mais eficiente em espantar nadadores.
A imposição do medo, fortalecido por discurso de raiva, passou a ser dominante no jogo político global. Engajou as pessoas que tinham e têm a tendência de atribuir ao outro a responsabilidade pela própria frustração. E começou a cavar espaço em postos de liderança no mundo todo.
“Mas é preciso saber fazer isso. Olha o (Geraldo) Alckmin, por exemplo. Ele adotou a estratégia de falar mal de todo mundo e conseguiu a proeza de cair nas pesquisas durante o período eleitoral em 2018”, diz Oscar Diego De La Rubia.
Segundo o The Observer, Steve Bannon tinha relações com a Cambridge Analytica até se tornar o diretor-geral da campanha de Donald Trump à Presidência. É considerado a peça da disseminação da ideologia da operação.
Foi demitido em 2017 do governo Trump, mas logo foi cercado pelo clã Bolsonaro e considerado guru da família durante a campanha.
A proximidade seguiu após as eleições. Volta e meia um dos filhos postava foto em rede social em jantar com Bannon e reportagens apontam encontro com Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, em Brasília, poucos dias antes do confuso e raivoso discurso de Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro de 2019.
Brittany Kaiser lançou recentemente livro em que conta em detalhes a operação Cambridge Analytica. O título diz o suficiente: “Manipulados”.
Já ela lamenta que o método não acabou junto à derrocada da empresa com a revelação dos métodos perversos de operação. Pelo contrário. “A morte da empresa fez nascer centenas de cambridge analyticas”, constatou.
A empresa-mãe apostou em cooptar rebanho por sentimentalização no Facebook com microsegmentação para chegar à turma do meio entre os extremos, que no caso do Brasil é calculada entre 60% e 70% do eleitorado.
E a tática é eficaz (ou foi) em relação a campanhas e eleições, só que perde relevância no dia a dia, quando é preciso manutenção e não persuasão.
Aí entram em cena outros tipos de ferramenta, os robôs que batalham por manipular a opinião pública principalmente por “assuntos mais comentados” (trending topics) do Twitter e em espalhar notícias quase sempre duvidosas em grupos de Whatsapp, para inflar a manada em uma plataforma e inflamar esta em outra.
Só que a tática tem na maioria das vezes a eficácia de um tiro. Uma vez disparado, você mantém o calor da arma por um tempo em outras redes, mas depois a realidade se sobrepõe. Nesse ponto, entrou o Brasil de Jair Bolsonaro.
E DAÍ?
A presidência foi magistral em criar noticiário e/ou factoides durante a quase totalidade do governo até a pandemia. Ocupava o noticiário um dia e no seguinte, sem que fosse digerida a atividade prévia, já disparava novo petardo, que igualmente era encoberto pela fumaça do seguinte. E assim em diante.
O vírus roubou o protagonismo governamental.
Quando percebeu que o empresariado brasileiro impunha flexibilização da quarentena para que os negócios não ficassem inoperantes, o presidente se indispôs com o mundo todo, praticamente, e perdeu também a cadeira de popularidade para o ministro da Saúde da ocasião, Luiz Henrique Mandetta.
Aparentemente, a Polícia Federal se aproximou do coração do núcleo presidencial e Bolsonaro foi obrigado a se indispor com um dos pilares de sua eleição, o ex-ministro da Justiça Sergio Moro.
Se verídicas as declarações de Moro, era ou salvar os filhos ou salvar a popularidade que o ex-juiz rebocava para o governo. Optou pela primeira.
Foi quando a reação pública se tornou incontrolável, por mais robôs que se utilizassem como defesa, em cenário que já vinha se desenhando.
O cidadão, que já não podia mais se dar ao luxo de cair num conto de fake news, pois o máximo que lhe aconteceria era passar um carão no grupo de Whatsapp da família por citar alguma teoria negacionista, se viu obrigado a reclamar a legitimidade de mudança ministerial delicada em meio à situação global inédita.
O calor escorreu dos polos e foi para a zona mista cinza.
Quem dá pinta de estar percebendo essa movimentação é o governador de São Paulo, João Doria. Ele encontrou nesse público a chance de se opor com embasamento a Bolsonaro e se apresentar como voz de bom senso diante das sandices presidenciais.
O discurso encontrou ressonância e ele se tornou uma espécie de liderança natural do movimento dos governadores que estão batendo de frente com o presidente.
Nas manifestações bolsonaristas de 18 de abril, Doria usou a “casa de Bolsonaro”, o Twitter, para marcar posição.
Em seus tuítes, classificou as manifestações de “a favor do coronavírus”. Também utilizou a rede para se manifestar sobre os buzinaços feitos em frente a um hospital paulistano, apontando-os como “uma sabotagem aos profissionais de saúde”.
Doria utilizou a clássica fórmula do presidente: a polarização, a criação de inimigos para se posicionar. Utilizou uma das poucas unanimidades da crise do coronavírus –o trabalho dos profissionais de saúde– para traçar uma cruzada do bem contra o mal. Do lado do bem ele colocou no xadrez contra Bolsonaro os médicos, enfermeiros e o isolamento social.
O que resta saber é se o cidadão comum vai deixar de lado os momentos BolsoDoria de 2018 e se posicionar ao lado do paulistano. Quem aguarda por aceno positivo é o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que seguiu a mesma trajetória do paulistano e sonha, como ele, com 2022.
Também é muito cedo para saber se essa é uma mudança de cenário que veio para determinar uma nova era na política digital.
Cabe por enquanto uma interrogação e um adendo ao título deste texto: “Covid derreteu (de vez) extremismo e fábricas de fake news na política digital?”.
Os próximos meses dirão. A única previsão garantida que existe no universo digital é que não há garantia de previsões. Mas raras são as mudanças que caminham casas para trás no tabuleiro.