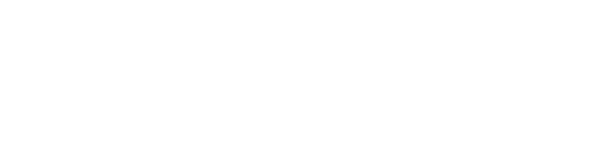Por Philipp Lichterbeck*
Republik
Fazia menos de 48 horas desde o ataque com faca, quando o candidato presidencial brasileiro do PSL, Jair Messias Bolsonaro, estava sentado em uma cadeira do hospital sorrindo. Ele não se parecia com alguém que havia pulado o nó da morte. Ele formou as mãos em uma arma imaginária.
Um homem mentalmente perturbado atacou Bolsonaro durante uma aparição de campanha com uma faca de cozinha . Uma operação de emergência salvou a vida do político de extrema direita. Depois disso, a campanha eleitoral brasileira ficou parada por um momento. Ele recomeçou com o gesto provocativo de Bolsonaro.
Bolsonaro é um cara de arma. Ele diz que as crianças não podem aprender cedo o suficiente para atirar. Então eles saberiam como lidar com criminosos. Ele acredita que Jesus teria usado uma pistola se já houvesse uma em seu tempo. Certa vez, em um palco de campanha, ele segurou um tripé de câmera como um rifle de assalto e gritou para a multidão: ” Vamos dar um soco na Petralhada! “Ele quis dizer os partidários do Partido Trabalhista de Esquerda.
Seus seguidores amam Bolsonaro por tais momentos e cantam seu nome de luta: “Mito, Mito!” Isso significa mito. Para os adversários de Bolsonaro, é apenas mais uma prova de que o homem é um perigo de incêndio. Ele é “um fascista clássico”, diz o filósofo brasileiro-chileno Vladimir Safatle.
Um populista de direita em ascensão
Este homem, Jair Bolsonaro, poderia se tornar o próximo chefe de estado do Brasil. Em 7 de outubro, a primeira rodada de eleições presidenciais acontecerá – e Bolsonaro está na frente de seus 12 competidores em todas as pesquisas. O ataque de faca deu-lhe atenção e simpatia adicionais. Ele, que de outra forma gosta de atacar, foi repentinamente a vítima – e para seus oponentes foi ainda mais difícil criticá-lo.
Apenas um homem, segundo as pesquisas, teria ainda mais votos do que Bolsonaro: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas Lula está preso desde abril e não pode competir. Portanto, é certo que Bolsonaro chegará ao segundo turno em 28 de outubro.
Se ele mantivesse o nariz ali, isso não seria apenas um choque para o Brasil. Seria após a eleição de Donald Trump outro terremoto geopolítico: o Brasil é de longe o maior, mais populoso e economicamente o mais importante país da América Latina. Bolsonaro seria governado por um aventureiro de extrema direita que quer deixar a ONU e considera Adolf Hitler um “grande estrategista”. Ele regularmente incita negros, gays, mulheres, indígenas e politicamente dissidentes.
O mito da “democracia racial” brasileira
Por que milhões de brasileiros querem que esse homem chegue ao estado? Brasil tem sido considerado nação tolerante com uma população mista cheio de vitalidade, “pessoas amigáveis”, como descrito pelo historiador Sérgio Buarque 1936, o arquétipo do brasileiro em seu texto tecla “As raízes do Brasil”. E para o escritor vienense Stefan Zweig, o Brasil era acima de tudo uma ” terra do futuro ” porque acreditava que não encontrava racismo ou nacionalismo aqui.
Por mais distorcida que essa percepção fosse, gerações de brasileiros queriam acreditar nela. Como uma “democracia racial”, o Brasil gostava de se ver em contraste com os EUA, com seus distúrbios raciais. Mas agora o brasileiro se tornou o brasileiro feio. O país se moveu para a direita. E mesmo que Bolsonaro não ganhe no final, surge a pergunta: como poderia ter chegado tão longe?
Da nação em crescimento ao estado de crise
As explicações são variadas, têm uma coisa em comum: são sobre um país que foi celebrado há dez anos como uma nação ascendente do século XXI, mas que caiu em uma crise existencial por volta de 2012. O que começou como uma crise econômica se transformou em uma crise do Estado e da sociedade.
Está intimamente ligada a um gigantesco escândalo de corrupção que revelou a cleptomania da elite política e econômica. Incluiu a demissão duvidosa da presidente democraticamente eleita, Dilma Rousseff. Além disso, a detenção do ex-presidente Lula da Silva depois de um polêmico processo. Lula é o homem que liderou o Brasil nos anos de boom e que ainda escolheu a maioria se eles permitirem.
A crise roubou milhões de brasileiros de seus empregos e quase esperava que as coisas pudessem melhorar num futuro previsível. Porque eles experimentam diariamente a imposição do transporte público. Eles percebem que seus filhos não estão aprendendo nas escolas. Eles percebem que não há mais medicamentos nos hospitais. Eles estão com medo porque o estado não consegue protegê-los dos criminosos. E então eles vêem como o museu mais antigo do país no Rio de Janeiro simplesmente queima, porque o estado não pagou por sua manutenção e os hidrantes na área não carregavam água.

O fenômeno Bolsonaro
Nesta situação, Bolsonaro promete: ordem! “Eu vou limpar”, diz ele. E muitos querem acreditar. Porque não há mais ninguém que parece ter uma bússola. Alguém que poderia formular uma visão positiva do futuro e coragem. Geralmente são esses momentos de desorientação, nos quais a hora dos cínicos, extremistas e destruidores bate. E assim a sociedade brasileira também se polarizou muito, dificilmente é possível um diálogo entre esquerda e direita, preto e branco, pobre e rico.
Em suma, a história recente do Brasil é a de um acidente. Jair Bolsonaro é tanto seu sintoma quanto aproveitador. A descida do Brasil é a sua ascensão. Vamos ficar com esse homem muito comum, mesquinho e tacanho, que conseguiu enfeitiçar os brasileiros.
Jair Messias Bolsonaro tem 63 anos e passou 27 deles como backbencher no Parlamento brasileiro. Ele passou duas leis menores durante este tempo e, no entanto, tornou-se um dos políticos mais famosos do país. Ele ganhou seu distrito eleitoral no Rio de Janeiro em 2014 com 464 mil votos, apenas dois deputados no Brasil receberam mais.
Bolsonaro alcançou sua grande fama com uma tática que tem sido usada com sucesso pelos direitistas radicais em todo o mundo: provocação, violência verbal, anti-calamidade. Por exemplo, Bolsonaro, o próprio coronel da reserva, defendeu a ditadura militar brasileira em todas as ocasiões, que durou de 1964 a 1985. Ele ressaltou que foi “um período glorioso da história brasileira”. A ditadura só cometera o erro de torturar e não matar.
Esta afirmação é tão ruim quanto errada. Os militares assassinaram opositores políticos, a comissão da verdade do Brasil identificou 434 vítimas, incluindo 210 desaparecidos. Além disso, há 1.200 camponeses mortos ou desaparecidos e 8.350 indígenas que foram mortos ou não receberam ajuda médica urgente do governo.
Em seu gabinete em Brasília, Bolsonaro pendurou os retratos dos presidentes da ditadura. Ele a chama de “meus gurus”. A democracia, por sua vez, considera uma “bagunça”. No dia em que ele chegou ao poder, ele iria fechar o Congresso, disse ele em 1999. O conservador ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele prefere “com 30.000 outro corrupto” contra a parede.
Em outros países, tais monstruosidades levariam ao aprisionamento. No Brasil, eles chamaram atenção para Bolsonaro e fãs. Bolsonaro é cortejado pela figura militar influente, que nunca pagou por seus crimes graças a uma anistia. Sempre que ele aparece no quartel, os soldados o animam.
Bolsonaro também está entusiasmado com a condução nas ruas. As pessoas estão se formando, todo mundo quer tirar uma selfie com ele. Bolsonaro gosta disso, ele se entrega perto do povo. “Ele fala nossa língua”, dizem seus seguidores. T-shirts que o mostram como vingador do Brasil com jaqueta de couro e fuzil de assalto encontram rasgando o calcanhar.
Não é novidade que grandes partes do Brasil conservador compartilham as idéias de Bolsonaro. Advogados no Rio dizem a um e a grandes proprietários de terras do interior de São Paulo que o golpe militar foi uma “revolução necessária para impedir o comunismo”.
O que é novo é que Bolsonaro recebeu o status de pop star com tais visões. Ele é citado por alunos em sala de aula que querem provocar seus professores. Alguém então filma como o professor enlouquece, o que por sua vez é compartilhado nas redes sociais como prova da histeria da esquerda. Se a provocação foi deixada e anti-autoritária em 1968, então cinquenta anos depois está certa, preposicionada e reacionária.
No modelo social de Bolsonaro, os homens brancos heterossexuais estão no comando. Ele repreende todos os outros regularmente, quase se pode falar de uma síndrome de Tourette política. É claro que seus fãs veem assim: ele não se importa com o politicamente correto e diz o que pensa. Por exemplo:
Em homossexuais, 2011, em uma entrevista com «Playboy»: «Eu não podia amar um filho gay. Eu prefiro morrer em um acidente “.
Sobre Preto, de 2017, o Clube judaica do Rio de Janeiro um Quilombo (assim chamados os assentamentos de descendentes de escravos negros): ” A descida Africano leve lá pesava sete quilos (uma vez que a unidade de peso para pesar escravos, nota do editor …) , Eles não fazem nada! Ele nem é bom para a reprodução.
Sobre as mulheres, em 2014, no Parlamento, ele disse à deputada da esquerda Maria do Rosário: “Eu não iria te estuprar porque você não merecia isso”.
Sobre Povos Indígenas, 2017 no Clube Judaico do Rio de Janeiro: “Não é mais uma polegada para reservas.”
Sobre os imigrantes, 2015 em uma entrevista de jornal: “Haitianos, senegaleses, bolivianos e todos os outros escândalos chegam até nós, e agora até os sírios”.

Adversários políticos
Quando a presidente Dilma Rousseff foi eliminada do cargo em 2016, Bolsonaro dedicou sua voz ao chefe de uma notória unidade de tortura. Dilma foi torturada durante a ditadura.
Evidentemente, a resistência a essa adversidade também é provocada. O escritor Luiz Ruffato atesta o “discurso do ódio” de Bolsonaro. O rival liberal da presidência, Ciro Gomes, descreve Bolsonaro como um “Hitler tropical”. E a revista conservadora «IstoÉ» alerta para uma «ameaça totalitária».
Bolsonaro reage com calma. “Eu vou fazer como Trump”, diz ele. “Você vai me bater tanto que eu não preciso mais de uma campanha.” Como Donald Trump, Bolsonaro despreza a mídia tradicional e usa a mídia social para espalhar suas “verdades”. Tem mais de 6 milhões de assinantes no Facebook, 2,7 milhões no Instagram e 1,4 milhões no Twitter. O mais notável: em 2015, ele tinha apenas 44.000 seguidores.
Claro que isso dá autoconfiança e parece não haver nada que possa perturbar Bolsonaro. Nem mesmo sua própria ignorância. “Eu não entendo de negócios”, afirmou repetidamente. Não o machucou. Porque não são considerações racionais que são cruciais para tantos brasileiros fazerem um presidente homem odioso e incompetente. Eles são emoções.
O jogo com o medo
Dois sentimentos são cruciais nas próximas eleições: medo e raiva.
Primeiro, temer: no ano passado, no Brasil, 63.880 pessoas foram assassinadas. Um novo recorde – em nenhum lugar do mundo há mais assassinatos cometidos. A taxa de homicídios no Brasil agora é de mais de 30 assassinatos por 100.000 habitantes (na Suíça é de 0,5). Acrescente a isso todos os dias: roubos, arrombamentos, roubos de carros, sequestros de caminhões, tiroteios e mortos nas favelas.
A taxa de detecção do crime é baixa: apenas em dez por cento dos assassinatos, há uma prisão. Apenas quatro por cento das cobranças são cobradas. As ofensas menores são ainda mais dramáticas. Exemplo Rio de Janeiro: Aqui são roubados de acordo com a polícia, em média, dois telefones celulares por hora. O número de casos não relatados deve ser muito maior, porque quase ninguém vai à polícia. A visão é comum: a polícia não faria nada de qualquer maneira.
Jair Bolsonaro conseguiu canalizar o sentimento geral de insegurança. Sua promessa de campanha eleitoral central é: todo brasileiro pode usar uma arma para se defender. Bolsonaro apóia a pena de morte e a tortura. E ele quer dar à polícia uma licença para matar. Em entrevista à maior emissora de TV do Brasil, a TV Globo, ele disse: “Se um policial mata vinte criminosos, ele é excelente e não examinado”.
Na verdade, a polícia do Brasil já está matando a uma taxa acima da média hoje. Em 2017, 14 pessoas morreram a cada dia de balas da polícia. Esses casos quase nunca são esclarecidos. As vítimas são, em sua maioria, negros e pobres moradores da favela, cujas vidas – digamos assim – dificilmente contam no Brasil.
Qualquer um que tenha sido brutalmente atacado tem pouco senso de direitos humanos de qualquer maneira. Ele quer que os criminosos sejam retirados de circulação – não importa como. Acontece que o taxista negro do Rio de Janeiro lhe diz que ele escolhe Bolsonaro. “Então o clube balança os vagabundos”, diz ele. “Então é engraçado.”
Raiva como uma unidade
Pare de se divertir! A sentença descreve bem o humor no Brasil. E esse é o segundo sentimento importante no Brasil: raiva. Muitos brasileiros estão fartos de um país que os promete tanto e os oferece tão pouco.
Isso é literalmente. O Brasil tem mais impostos e taxas do mundo. Mas não sobre os rendimentos são fortemente tributados (taxa de imposto superior a 27,5 por cento), mas o consumo. Isso afeta desproporcionalmente as famílias de baixa e média dimensão. Se você bebe um café, paga 16,5% de imposto sobre o pó de café, 30,6% sobre o açúcar e 37,8% sobre a água.
Mas quando se trata do uso da receita para o benefício da população, o Brasil ocupa o último lugar entre os trinta países do mundo com a maior receita tributária. E é isso que os brasileiros sentem: nas escolas públicas, onde falta papel; em ônibus superlotados; nos hospitais onde as mulheres grávidas dão à luz na sala de espera porque faltam leitos; em trens suburbanos que param a cada dez minutos porque há um tiroteio em algum lugar ao longo do caminho.
Ao mesmo tempo, eles estão experimentando que os políticos estão aumentando seus salários. O salário médio no Brasil é o equivalente a 600 francos. Mas um deputado em Brasília ganha 8100 francos e arrecada em cima do que ainda vive e viaja dinheiro. Aquele deve lançar uma bomba no congresso, ouve-se em conversas de novo e de novo.
Para entender a raiva e o medo dos brasileiros, é preciso olhar para os noughties. Foi a década de partida e esperança.
Na noughties: o aumento
Em 2002, o ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil. Lula era chefe do Partido Trabalhista de Esquerda (PT) e convenceu as pessoas com a promessa de que ele criaria uma nação mais justa. A imensa riqueza do Brasil deve finalmente beneficiar a todos, e não apenas a pequena elite de proprietários de terras, industriais e banqueiros.
Seu governo logo lançou programas sociais de larga escala, como o Bolsa Família. A ideia: os pais que mandam seus filhos para a escola recebem apoio mensal. Ao mesmo tempo, a economia cresceu em média 4% ao ano. O Brasil eliminou suas dívidas do FMI e o salário mínimo foi aumentado de forma constante. 40 milhões de pessoas aumentou durante este período, de acordo com estatísticas oficiais, na classe média, a chamada classe C. Este foi, no entanto, definido generosamente: uma renda equivalente a 550 francos.
Naquela época, Lula era o chefe de estado mais popular do mundo. Barack Obama disse: “Eu o admiro”.
Quando Lula deixou o cargo em 2011, milhões de empregos assegurados foram criados. Seu governo quase erradicara a fome e tornou o Brasil o segundo maior exportador de alimentos do mundo. O país inundou o mundo com soja, açúcar, café e laranja. Ela fornecia minério de ferro, do qual os chineses despejavam aço para suas cidades. E queria começar a explorar os enormes campos de petróleo de suas costas. O consumo interno também cresceu. Os brasileiros compraram máquinas de lavar, computadores, carros e televisores estúpidos. Eles estavam em dívida, mas eles queriam pertencer. Em 2011, o Brasil superou a Inglaterra e se tornou a sexta maior economia do mundo.
A “Terra do Futuro”, da qual Stefan Zweig delira em 1942, finalmente parece ter encontrado seu papel: multiétnico, tolerante, democrático – e economicamente bem-sucedido. Com um potencial inesgotável de matérias-primas e mão de obra. Por último, mas não menos importante, o Brasil recebeu a Copa do Mundo da FIFA de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. O “economista” britânico encabeçou em 2009 a imagem de uma estátua voadora de Cristo: “o Brasil está decolando”.
Boom econômico sem a grande multidão
Só poderia seguir o declínio. Em 2010, os brasileiros elegeram a amiga do partido de Lula, Dilma Rousseff, como presidente. Ela continuou seu curso: exportações e programas sociais. Ainda mais surpreendente foram os protestos em massa no verão de 2013, quando milhões de jovens brasileiras saíram às ruas em busca de outro país. Eles exigiam melhores escolas, melhores hospitais, melhores sistemas de transporte, mais segurança e, acima de tudo, o fim da corrupção. “Desculpe a perturbação”, as pessoas leram em cartazes na época, “estamos mudando o Brasil”.
De fato, a euforia dos anos noventa desvaneceu-se por muito tempo nos déficits estruturais do Brasil. Embora o avanço econômico significasse avanço pessoal para muitos, não se traduziu em melhoria da infraestrutura pública. Por que, muitas pessoas se perguntam, o ônibus a 37 graus Celsius não tem ar condicionado, embora o bilhete já tenha 20 centavos mais caro?
A resposta simples foi no caso do Rio de Janeiro: porque grande parte do dinheiro desaparece nos bolsos do governador, que concedeu ao chefe da empresa de ônibus o aumento, que por sua vez co-financia sua campanha eleitoral. Era a máquina habitual de corrupção do Brasil, bem lubrificada há décadas. Especialmente os jovens não queriam mais aceitar isso.
Ao mesmo tempo, as trincheiras de uma sociedade baseada em uma ordem quase feudal se aprofundaram novamente. Embora o Brasil (como o último país do continente americano) tenha abolido a escravidão em 1888, ainda existe uma elite branca na política, nos negócios, na mídia, na justiça e nas universidades. A grande massa de negros, por outro lado, é pobre, vive em favelas e serve como um reservatório barato de mão-de-obra. Um estudo da ONU publicado em 2018 concluiu que o Brasil é um dos cinco países mais injustos do mundo: 23% de sua renda concentrou-se em apenas 0,1% da população.
As diferenças são evidentes na distribuição do país, educação, saúde e segurança. Quem sabe e é rico, tem acesso. Aqueles que são negros e pobres têm pouca chance de ascender. Essa oposição nunca poderia ser revertida pelo Partido Trabalhista do PT. O que tem a ver com o fato de que cerca de trinta partidos estão representados no parlamento brasileiro. Todo governo depende de um grande número de parceiros de coalizão, que por sua vez buscam uma ampla variedade de interesses. Isso torna as reformas estruturais quase impossíveis.
“O Brasil estragou tudo?”
O ponto de cristalização para as manifestações em 2013 foi a próxima Copa do Mundo da FIFA. Um sentiu seus custos como perversos. Mas tão rapidamente quanto os protestos chegaram, eles desapareceram novamente. Isso teve muito a ver com as ações brutais da polícia militar, que lançou enormes quantidades de gás lacrimogêneo. As cenas serviram à mídia política e conservadora para classificar os manifestantes como “terroristas”. Ao mesmo tempo, a oposição conservadora tentou canalizar a insatisfação.
Ela foi ajudada pelo início de uma crise econômica. Em 2012, a economia brasileira cresceu apenas 0,9%. Os chineses compraram menos matérias-primas e os preços caíram. O maior problema do Brasil ficou claro: a dependência da exportação de matérias-primas não processadas.
Em 2013, o economista perguntou, de forma retórica : “O Brasil estragou tudo?” Além disso, uma estátua de Cristo estava caindo.
De fato, a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, bagunçou bastante. Ela não fez nada ou reagiu mal, tentando manter a crise com as determinações do preço da gasolina dos brasileiros. Então o país finalmente entrou em recessão. A inflação aumentou semanalmente, assim como o desemprego. Ex-trabalhadores do setor petrolífero de repente se viram novamente como vendedores ambulantes.
No entanto, após uma campanha eleitoral acirrada em 2014, Dilma Rousseff conseguiu se tornar presidente novamente. Infelizmente, foi também o ano em que um dos maiores escândalos de corrupção do mundo começou a se desenrolar: “Investigadores chamaram sua lava de Jato”, Car Wash.

Investigações unilaterais de corrupção
As empresas que receberam pedidos da Petrobras, uma gigante petroleira semi-estatal, tiveram que pagar “bônus” a mulheres políticas. Foi o que a investigação mostrou. O sistema tornou-se independente ao longo dos anos, foi bilhões de dólares.
O tamanho do ataque veio à luz quando um ex-gerente da Petrobras, que havia sido preso por suborno, concordou com um acordo: aliviar a ofensa. Ele disse, começou a chamar nomes. Os casos terminaram com o jovem e ambicioso juiz de instrução Sérgio Moro e sua equipe.
Moro em breve ensinou a classe econômica e política no Brasil temem: Ele trouxe a cabeça da Odebrecht, a maior empresa de construção na América Latina, atrás das grades. Tanto a Odebrecht quanto a Petrobras, ambos importantes pilares da economia brasileira, perderam muito valor durante esse período. Weekly cresceu a lista de suspeitos em política e negócios. Os brasileiros assistiram o desenvolvimento atordoado – e admiraram o Moro de boa aparência.
Mas o magistrado examinador logo teve que aceitar a acusação de investigar membros do Partido Trabalhista de esquerda da presidente Dilma Rousseff. A observação não estava errada. Político do partido de oposição conservador PSDB poupou Moro de maneira impressionante – mesmo em uma conversa amigável com eles.
Finalmente, ele também tentou empurrar Rousseff para o escândalo. Ele não teve sucesso, mas para a classe alta conservadora branca do Brasil foi o sinal de partida para se mobilizar contra Rousseff e seu partido dos trabalhadores, que supostamente levou o Brasil ao comunismo.
O impeachment contra o presidente
Em 2015 e 2016, o Brasil voltou a sofrer protestos em massa. Mas os manifestantes eram diferentes desta vez. agora havia milhões de brasileiros bem-off white para as ruas e cantaram Você podia ver banners no qual estava escrito “Dilma out!”: “O Brasil nunca será vermelho”! ‘O Brasil não é Cuba’ ou a camisa amarela da equipa de futebol nacional tornou-se o Identificação dos demonstradores. A polícia permitiu que ela fosse amistosa. O que começou à esquerda e se emancipou em 2013 saiu certo e autoritário em 2016.
A pressão acabou levando o Congresso a lançar um processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Embora nenhuma corrupção pudesse ser provada a ela, mas advogados habilidosos se depararam com alguns truques domésticos de seu governo, que teriam perturbado em qualquer circunstância, ninguém. O vaidoso vice-presidente Michel Temer, do Partido do Movimento Democrático, PMDB, começou a intrigar as costas de Rousseff.
Como você sabe hoje, havia um motivo crucial para o processo de impeachment: o medo de muitos políticos antes da investigação Lava Jato. Porque a presidente Dilma Rousseff deixou os investigadores concederem, e eles estavam perigosamente próximos de algumas figuras-chave no PMDB de Temers. A gravação de uma conversa em que um político sênior do PMDB diz: “Temos que parar o sangramento!” Era infame, ele estava se referindo à investigação da Operação Lava Jato.
Vice-Presidente Temer assume
No final de agosto de 2016, Dilma Rousseff foi demitida do Congresso e o vice-presidente Michel Temer assumiu a faixa presidencial. Sua primeira promessa: impulsionar a economia. Temer nomeou um gabinete de homens exclusivamente brancos e começou a implementar reformas: a liberalização do mercado de trabalho, a reforma previdenciária, a redução do Bolsa Família e a abolição das bolsas de estudo para os brasileiros mais pobres.
Nas eleições Temer por seu programa nunca iria conseguir uma maioria, de modo que o Partido Trabalhista agora, “golpe” de uma língua, um golpe de Estado. Até o momento, o termo divide o Brasil. Quem usa é identificado como um linker; que insiste em «impeachment», como direitos.
A economia recebeu bem primeiro a política de Temer. Isso levou a um declínio na inflação e um renascimento dos mercados. Em última análise, Temer não conseguiu tirar o país da profunda crise econômica. Em termos de crescimento, o Brasil ficou em último lugar em 47 países em agosto de 2018. No ranking do Banco Mundial para os investidores uso, o Brasil ocupa o desemprego 125 foi de 12,3 por cento no último e afetou 13 milhões de brasileiros. Além disso, de acordo com a FAO é a fome que havia sido erradicado de volta.
Sistema eleitoral não democrático
Portanto, não é surpreendente que o índice de aprovação de Temer esteja abaixo de 5% hoje. Há também sérias alegações de corrupção contra ele. O ex-promotor federal Rodrigo Janot chegou a descrevê-lo como o “chefe de uma organização criminosa”. Mas o parlamento protege Temer. Isso não é surpreendente. Cerca de 300 dos 513 deputados são, eles próprios, suspeitos de corrupção ou outros crimes, incluindo homicídio. No Senado, segundo a Transparency Brasil, 49 dos 81 senadores são suspeitos. Por isso, não precisam responder ao tribunal porque, como representantes eleitos, desfrutam do chamado “foro privilegiado”, um regulamento especial que praticamente lhes dá imunidade.
Muitos brasileiros querem agora um expurgo do congresso. No entanto, muitos dos suspeitos habituais vão se mudar depois das eleições. É por causa do sistema eleitoral brasileiro, que é complicado e antidemocrático. Apenas cinco por cento dos atuais membros foram eleitos diretamente, os outros foram redigidos com votos de empréstimo. Além disso, algumas famílias dominam a política do Brasil. O cientista político Ricardo Costa Oliveira determinou que 62% dos deputados e 70% dos senadores pertencem a clãs políticos. É um sistema que impede a participação política e cimenta o status quo. O número de brasileiros que não podem votar por causa disso provavelmente chegará a um novo recorde neste outono.

Lula na prisão
Um inelegível provavelmente impediria esse registro negativo: o ex-presidente Lula da Silva ainda é adorado por muitos pobres, artistas e intelectuais – e odiado pela classe alta. Ela gosta de tirar sarro do seu português com defeito; ou que ele só tem quatro dedos na mão esquerda por causa de um acidente no trabalho. Por isso, ficou entusiasmada ao examinar o magistrado Sérgio Moro como alvo do ex-presidente de esquerda durante suas investigações de corrupção. Moro estava convencido de que Lula recebera um apartamento da construtora OAS porque havia dado ordens à empresa. Mas Lula negou que o apartamento já pertencesse a ele. Embora Moro nunca pudesse provar sua tese cem por cento, ele condenou Lula em julho de 2017. (No Brasil, investigar magistrados conduz uma investigação de caso, que eles julgam.) Um tribunal confirmou o veredicto de Moros em janeiro e aumentou a sentença para doze anos. Desde abril, Lula está agora na prisão.
O caso de Lula é ao lado da ascensão de Bolsonaro o segundo grande drama se desdobrando diante dos brasileiros. Tem qualidades shakespearianas. Porque Lula não é apenas um político. Para alguns ele é o presidente do povo, para outros ele é o maior ladrão da história. O primeiro afirma que ele é um prisioneiro político, o segundo o considera um criminoso comum. Lula não deixa ninguém com frio, então ele ainda é onipresente nas eleições, mesmo estando preso.
A coisa mais surpreendente sobre isso: apesar de sua convicção, Lula lidera o campo em todas as pesquisas. Se ele pudesse competir, ele se tornaria o novo e velho presidente do Brasil. Mas ele não pode.
O que agora?
O Partido Trabalhista está enviando o ex-prefeito de São Paulo para a corrida, Fernando Haddad. Se ele conseguir ficar atrás de Bolsonaro no segundo turno estará completamente aberto. Ao contrário de Lula, ele é um candidato pálido. Há também uma chance para a ambientalista evangélica Marina Silva, que já está concorrendo pela terceira vez. Ela é atestada falta de vontade de poder. O esquerdista Ciro Gomes, por outro lado, é intelectual e irônico demais para muitos brasileiros comuns. Finalmente, o ex-governador de São Paulo leva Geraldo Alckmin do PSDB é o candidato favorito da economia e do grupo de mídia poderosa Globo. Mas ele é extremamente rígido e impopular. E até contra ele existem alegações de corrupção.
Quem dos candidatos na segunda e decisiva rodada de eleições no final de outubro é hoje completamente incerto. Apenas Jair Bolsonaro certamente conseguirá – uma perspectiva sombria.
“Deus é brasileiro” é um lindo lema no Brasil: “Deus é brasileiro”. Parece que ele está atualmente em uma fase razoavelmente do Antigo Testamento.
* é jornalista no Rio de Janeiro. Entre outras coisas, ele escreve sobre o “Tagesspiegel”, o “Zeit”, o NZZ e o WOZ sobre a América Latina